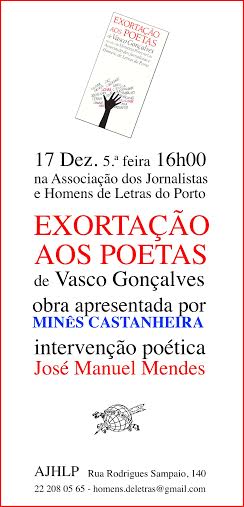domingo, 25 de dezembro de 2011
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Antena
Não há salvação possível fora da imitação do silêncio. Mas a nossa loquacidade é pré-natal. Raça de tagarelas, de espermatozóides verbosos, estamos quimicamente ligados à Palavra: Emil Cioran.
A televisão tinha deixado de dar há dois dias. O Tio Sam disse que devia ser por causa do ninho das cegonhas na antena. Muitas cegonhas morriam electrocutadas em toda a Provença, as televisões deixavam de dar. O sistema de televisão terrestre digital estava a alterar isso. Muitas pessoas metiam também televisão por cabo. Mas na nossa zona ainda não funcionava. O Tio abriu uma garrafa de cerveja e bebeu directamente pelo gargalo. Fazia muito calor. A avó dormia. O tio sugeriu que fossemos para o quintal fazer um boneco de palha, com um ninho de cegonhas por cima da cabeça. Para as cegonhas irem para lá e deixarem a antena. Eu fui com ele. Passamos a tarde toda a apanhar palha. O tio dava nós nos molhos de palha que faziam os braços e os pés. Depois a cabeça. Ao fim da tarde o boneco ficou pronto. Depois o tio foi buscar uma escada e pô-la junto ao poste com a antena. O ninho estava vazio. Fiquei a segurar a escada. O tio apanhou o ninho, trouxe-o para baixo com cuidado até ao terceiro degrau e passou-mo para as mãos, no cimo de uma antena. Mostrou-me o ninho. Tinha dois ovos. A avó tinha acordado e ido ao jardim e também viu os ovos. Disse que os queria para os fazer estrelados com compota de morango e salsichas brancas pequenas. Disse que isso lhe fazia lembrar quando era pequenina. Mas o avô e eu não deixamos e os ovos ficaram nos ninhos. Fizemos uma pausa para ir lanchar e fomos para a cozinha. Depois o tio meteu o ninho no cimo do boneco. Fui buscar dois novelos de lã branca que eram da avó e que serviram para fazer os olhos. O avô cozeu os olhos ao boneco, depois metemos-lhe uns óculos de sol. O tio cozeu o ninho à cabeça do boneco. Ficamos sentados à espera que a cegonha chegasse.
A avó disse que a televisão já estava a dar e começou a ver um concurso. Adormeceu outra vez. Vimos a cegonha vir pela janela. O tio disse que ela devia ter cerca de um metro de altura. Ficamos a espreitá-la de dentro para não se assustar. Parecia que não estranhava o novo ninho. Era como se ele sempre tivesse estado aí. Ficava muito bem no cimo do boneco. Via-se o sol pôr-se ao fundo da seara. O tio foi buscar outra cerveja ao frigorífico. Mudou de canal. Eu também me sentei. Estava a dar a notícia de que dois aviões tinham batido nas torres gémeas. Ficamos a ver com atenção. As imagens repetiam-se. Estávamos todos assustados. De vez em quando viam-se pequeninos pontinhos a caírem dos prédios. Essas imagens alternavam com a das torres a ruírem pelo meio. O apresentador falava muito rápido. Outras vezes os pontinhos caíam. Perguntei ao tio se eram pessoas. O tio não respondeu. Perguntei outra vez, o silêncio apoderou-se da sala.
sexta-feira, 8 de julho de 2011
Alegoria Final
Escrever é inscrever no interior de um círculo o exterior de todos os círculos: Maurice Blanchot
I.
A amnésia segura uma estrela-do-mar, mete-a entre as mamas, está viva. É adocicada a sua parte de baixo, as suas pontas engrossam, incham entre os seios quentes - A estrela-do-mar incha de prazer e de recordações, como que alimentada por um espasmo solar que se reflecte nos olhos da Amnésia.
II.
Todas as recordações provêm do sol, é ele o único actor, representa as sombras, e representa a luz, representa toda a natureza humana como criador absoluto. A estrela incha, todas as suas pontas aumentam com o calor. Ela entra no mar, mergulha, atira a estrela para as ondas. Nunca tinha dormido, tratava-se de uma estrela-do-mar autista. Eterna como qualquer gesto humano ausente de simbolismo. Pelo último mito, a amnésia mergulha. Depois já em casa, a amnésia, puxa a luz de dentro do peito de Artur: Puxa-a devagar do tronco nu.
Há como esquecer a viagem, mas não há como acordar.
III.
Tudo foi uma noite, pensa Artur, uma noite com Cassandra, que não esquece. Uma noite de chumbo que durou mais de um milénio. Um milénio com que brinca um gato, como se fosse um novelo fluorescente feito de noite.
A amnésia tem um campo de algodão no lugar do peito. Mas o peito é perfeito. É feito de carne e não de luz, embora os fotões o atravessem, como atravessam todas as coisas vivas, sempre à procura de algo, como quem tem sede, ou quer simplesmente nadar.
Não tenho mãos, não tenho boca, só tenho memórias, memórias que caem líquidas como azeite que escorre da boca de um paralítico. Cronos limpa-a, ajeita-a, mete-lhe a algália.
IV.
Cassandra também não esquece,
Acaricia o peito de Artur.
Também ele não dorme
Porque o dia é citrino, em tudo citrino:
Há obsessões que se repetem como um jogo de voleibol entre o futuro e o futuro. Em campo-contra-campo. A Amnésia mergulha no mar: Esquece.
A visão parcial e fragmentada é necessária. A obsessão é necessária, é o único acto universal, guia-nos até à sobrevivência. Anula-nos os limites. Transfere-os para níveis mais elevados de consciência. A Amnésia beija Artur na boca, e o novelo corta-se em várias pontas; fragmenta-se a consciência, quebra-se a narrativa, todas, pelo esquecimento que se apodera de tudo. A sombra dos girassóis deixa de existir. A sombra dos homens deixa de existir. Acabou a representação – Começa o jogo verdadeiro. A Amnésia puxa a luz do corpo de Artur. Todas as pontas se acendem.
V.
Artur sonha com fios, com nós, coisas que ligam: os lobos transformam-se em meninos e descem pela Suécia em direcção às estações de metro de todo o continente. São ciganos. Sentam-se em frente de cada hipermercado. Mas isso não se passou verdadeiramente.
A literatura nunca existiu,
Diz Cassandra – Porque o único suporte permitido, agora, é o calor. E ele não regista. É só ponta e sensação que aumenta o novelo, engrossa as pontas da estrela. Ela está excitada, nas mamas da Amnésia. Artur escrevia duas novelas: "duas variantes do mito de orfeu", e "a vitalidade dos rapazes jovens".
Mas a Amnésia beijou-o na boca e ele perdeu o fio condutor.
VI.
O dia com Cassandra era impossível esquecer. A amnésia anda a rondar-nos, a mim e a Cassandra. A memória mais pura, cristalizada na boca de um paralítico. Cronos limpa-lhe os beiços. Numa cara atómica, que é a de todos: Não esquecer faz os rios descerem. O mar é já só esquecimento, uma pequena morte; se no fundo do Mediterrâneo está um nigeriano com algas nos pulmões isso não simboliza nada. Apenas faz com que a moral seja como a libido de um pedófilo. Porém, fizeram-lhe uma castração química. E agora a sua cara arde. E a mensagem é a própria cara.
O minotauro está a chorar, e a verdade é que vários helicópteros ergueram com cabos o labirinto no ar. E o seu sofrimento ficou exposto. Está a ser filmado para a BBC o último mito e dele se fará um manifesto, um manifesto que vai com o vento, que anda de bicicleta, um manifesto pedófilo com a cara a arder. O mensageiro é a única mensagem.
Ouve, nunca houve mensagem, libertei o sono da sua caixa azul para os homens dormirem, e os homens dormiram e do seu sono nasceu a Amnésia.
Da insónia nasceu Cassandra. As duas são gémeas. Dormem com os braços e pernas entrelaçados, as bocas juntas, a mesma e única respiração quente, e são agora já só uma e a mesma coisa, porque se fundiu memória e esquecimento.
Só, uma mulher vem à janela, e liga o mp3, ouve Nina Simone, acende um cigarro. Liga para Artur pelo telemóvel. Há dias citrinos em que Cronos corre demais, tem à sua frente o caminho mas come o caminho, e depois não fica nada, só um livro para ler.
VII.
A luz é filha de Cassandra e do Tempo. Os dois criaram o dia – As memórias provêm do sol. O labirinto tende para o mar. Se a Amnésia me beijasse na boca tenderia para o mar, mas foi Cassandra quem me abraçou.
VIII.
Numa seara da Boémia, duas ceifeiras colhem trigo, uma conta para outra a noite que passou com o seu amigo: Um louva-a-deus olha para elas.
Na Provença os louva-a-deus são vistos como insectos adoradores do diabo, pelas suas patas fixas para o céu. Seja como for, adoram algo, adoram como quem está vivo. As ceifeiras riem-se. A visão do louva-a-deus é fragmentada. Os louva-a-deus fêmea arrancam a cabeça do macho durante o sexo, no exacto momento em que este se está a vir. As ceifeiras colhem o trigo e riem-se.
Contava-se que no deserto um eremita com muita sede e fome, viu um louva-a-deus. Seguiu o caminho que as patas do insecto indicavam, ele estava em posição de abandono, numa quase meta-morte que o protegia dos predadores pensando-o inanimado. O eremita seguiu para sul. Pouco mais à frente viu um prado com um rio. Aí alimentou-se e bebeu. Mais tarde voltou ao local com vários eremitas para aí criar uma cidade em forma de estrela. Mandou vir fabricantes de sinos, adoradores de ídolos, construtores de telhas e de tijolos. Vários fornos foram montados para fazerem tijolos para as torres latinas. No cimo de cada torre havia um sino: um menino também que o badalava. No centro da cidade em forma de estrela estava um pequeno palácio de vidro. Aí dentro estava guardado o esquecimento. Quem lá entrasse não teria uma única recordação mais na sua vida. Toda a memória se ia. Depois as memórias de todos iam por pequeninos canais para o Nilo e desaguavam no Mediterrâneo. As memórias engrossavam as estrelas-do-mar e eram o seu único alimento: gorduroso, extremamente táctil e vital mas invisível. Como se fosse uma medusa, a mais perversa medusa, a memória amamentava-as, aumentava as pontas da rede. Mas de que rede se poderia falar? De uma invisível, única. Por uma visão fragmentada as meninas desciam os rios em direcção ao Mar Negro.
IX.
O homem não legitima, a luz legítima
Entra trémula na casa da possibilidade, oferece-se aos homens. A possibilidade sopra a noite de dentro dos búzios, e a noite cai, espalha-se em rede, os homens dormem e, enquanto dormem, o sol sopra a noite para cima devagar. A amnésia lambe-me os ouvidos, o farol dá o sinal – Há simbologias recorrentes no seu uso da escrita:
A alegoria é sempre doce e azeda ao mesmo tempo, a alegoria é citrina, ácida, tende para os pólos, para os unir. A vigília lambe-me os pulsos e faz com que eu seja todos os narradores, estou no centro da torre latina, a espera é extremamente ácida. Estou dentro da amnésia, venho-me dentro dela, ficamos abraçados, a anulação do medo é a morte, a morte entra no quarto, com o seu rabo aceso. Não vou personificar mais nenhum sentimento ou estado. Pois todos os estados são fêmea, como duas irmãs gémeas.
O homem não legitima, a luz legítima: A memória chora leite condensado para cima da Escócia – Como se fosse neve, dentro das órbitas dos olhos o sol reflectido
A minha profissão é a de guarda, guardo uma pirâmide, um supermercado, um rebanho, uma multinacional de próteses, um segredo, ou um olhar doce e triste, não sei bem o que guardo, mas guardo com todas as minhas forças, na retina, no meta-plasma, faço uma gravura daquilo que guardo.
O homem não legitima, só a luz legítima.
X.
Fragmento-me, uno-me dentro da amnésia, com Cassandra a puxar a minha luz, ela sai silenciosa. O avião levantou voo, e não há como arrebentar, cair, aterrar, só há como estar em cima. Sou a vontade em tudo malhada de te ver sorrir, espalho-me. A mulher sai da água.....................................................................................................................
Cronos espalha-se dentro dela, ela lambe-lhe os pulsos, Cronos possui a amnésia, o seu sexo incha de prazer, a respiração é cada vez mais rápida. Ela tem uma faca na mesinha de cabeceira. Cronos está prestes a perder todas as memórias. Está-se a vir: A amnésia está por cima, possuída de um prazer extremo - espeta-lhe a faca nas costas. O tempo pára ......................................................................
A amnésia segura uma cidade santa na mão, pela alegoria mais doce injecta leite condensado no peito: Aqui o novelo desenrola-se todo, a natureza humana cria a rede, a natureza humana precisa da rede. A rede viola as filhas da revolução, estão meias de licra espalhadas por toda a cidade. A rede infiltra-se em todos os corações – A meio do caminho há uma puma, devora o caminho para trás, mete a cabeça no forno, escreve a primeira ode, a primeira ode vai com o vento,
é o fim da poesia,
toda ela entra nos casulos,
uma procissão de búfalos subaquáticos atravessa a cidade.
Um dia as águas vão subir e vão trazer o Rober, é a natureza humana que fala.
XI
Um imperador chinês mandou que destruíssem todos os livros, queimados pelo fogo, mandou preservar apenas os tratados de medicina e de jardinagem, também um ou outro texto que falasse da imortalidade, construiu uma muralha que cobrisse todo o império: A rede entrou no império. Mas o imperador mandou que os jardineiros fossem cortar as pontas à rede. Mas a rede é invisível, não se vêem as pontas. Também não se vêem os nós que elas fazem: A amnésia segura uma cidade santa na mão e um farol na outra. Desenha um círculo a giz. No meio está um sapo, escreve o nome "Cassandra" num papel, e mete o papel na boca do sapo. Depois coze a boca do sapo e enterra-o vivo. Mete terra no buraco. O sapo morre asfixiado. Cronos está dentro dela – Mas está morto. Não há acção possível, foi tudo como um mergulho da ficção na realidade. Mas quem voltou à superfície não trazia cara alguma – Trazia a cara de todos. A amnésia dá-nos a mão, procura um fio condutor, corta esse fio condutor, a novela fragmenta-se... A luz trémula brilha nos olhos negros de Cassandra.
I.
A amnésia segura uma estrela-do-mar, mete-a entre as mamas, está viva. É adocicada a sua parte de baixo, as suas pontas engrossam, incham entre os seios quentes - A estrela-do-mar incha de prazer e de recordações, como que alimentada por um espasmo solar que se reflecte nos olhos da Amnésia.
II.
Todas as recordações provêm do sol, é ele o único actor, representa as sombras, e representa a luz, representa toda a natureza humana como criador absoluto. A estrela incha, todas as suas pontas aumentam com o calor. Ela entra no mar, mergulha, atira a estrela para as ondas. Nunca tinha dormido, tratava-se de uma estrela-do-mar autista. Eterna como qualquer gesto humano ausente de simbolismo. Pelo último mito, a amnésia mergulha. Depois já em casa, a amnésia, puxa a luz de dentro do peito de Artur: Puxa-a devagar do tronco nu.
Há como esquecer a viagem, mas não há como acordar.
III.
Tudo foi uma noite, pensa Artur, uma noite com Cassandra, que não esquece. Uma noite de chumbo que durou mais de um milénio. Um milénio com que brinca um gato, como se fosse um novelo fluorescente feito de noite.
A amnésia tem um campo de algodão no lugar do peito. Mas o peito é perfeito. É feito de carne e não de luz, embora os fotões o atravessem, como atravessam todas as coisas vivas, sempre à procura de algo, como quem tem sede, ou quer simplesmente nadar.
Não tenho mãos, não tenho boca, só tenho memórias, memórias que caem líquidas como azeite que escorre da boca de um paralítico. Cronos limpa-a, ajeita-a, mete-lhe a algália.
IV.
Cassandra também não esquece,
Acaricia o peito de Artur.
Também ele não dorme
Porque o dia é citrino, em tudo citrino:
Há obsessões que se repetem como um jogo de voleibol entre o futuro e o futuro. Em campo-contra-campo. A Amnésia mergulha no mar: Esquece.
A visão parcial e fragmentada é necessária. A obsessão é necessária, é o único acto universal, guia-nos até à sobrevivência. Anula-nos os limites. Transfere-os para níveis mais elevados de consciência. A Amnésia beija Artur na boca, e o novelo corta-se em várias pontas; fragmenta-se a consciência, quebra-se a narrativa, todas, pelo esquecimento que se apodera de tudo. A sombra dos girassóis deixa de existir. A sombra dos homens deixa de existir. Acabou a representação – Começa o jogo verdadeiro. A Amnésia puxa a luz do corpo de Artur. Todas as pontas se acendem.
V.
Artur sonha com fios, com nós, coisas que ligam: os lobos transformam-se em meninos e descem pela Suécia em direcção às estações de metro de todo o continente. São ciganos. Sentam-se em frente de cada hipermercado. Mas isso não se passou verdadeiramente.
A literatura nunca existiu,
Diz Cassandra – Porque o único suporte permitido, agora, é o calor. E ele não regista. É só ponta e sensação que aumenta o novelo, engrossa as pontas da estrela. Ela está excitada, nas mamas da Amnésia. Artur escrevia duas novelas: "duas variantes do mito de orfeu", e "a vitalidade dos rapazes jovens".
Mas a Amnésia beijou-o na boca e ele perdeu o fio condutor.
VI.
O dia com Cassandra era impossível esquecer. A amnésia anda a rondar-nos, a mim e a Cassandra. A memória mais pura, cristalizada na boca de um paralítico. Cronos limpa-lhe os beiços. Numa cara atómica, que é a de todos: Não esquecer faz os rios descerem. O mar é já só esquecimento, uma pequena morte; se no fundo do Mediterrâneo está um nigeriano com algas nos pulmões isso não simboliza nada. Apenas faz com que a moral seja como a libido de um pedófilo. Porém, fizeram-lhe uma castração química. E agora a sua cara arde. E a mensagem é a própria cara.
O minotauro está a chorar, e a verdade é que vários helicópteros ergueram com cabos o labirinto no ar. E o seu sofrimento ficou exposto. Está a ser filmado para a BBC o último mito e dele se fará um manifesto, um manifesto que vai com o vento, que anda de bicicleta, um manifesto pedófilo com a cara a arder. O mensageiro é a única mensagem.
Ouve, nunca houve mensagem, libertei o sono da sua caixa azul para os homens dormirem, e os homens dormiram e do seu sono nasceu a Amnésia.
Da insónia nasceu Cassandra. As duas são gémeas. Dormem com os braços e pernas entrelaçados, as bocas juntas, a mesma e única respiração quente, e são agora já só uma e a mesma coisa, porque se fundiu memória e esquecimento.
Só, uma mulher vem à janela, e liga o mp3, ouve Nina Simone, acende um cigarro. Liga para Artur pelo telemóvel. Há dias citrinos em que Cronos corre demais, tem à sua frente o caminho mas come o caminho, e depois não fica nada, só um livro para ler.
VII.
A luz é filha de Cassandra e do Tempo. Os dois criaram o dia – As memórias provêm do sol. O labirinto tende para o mar. Se a Amnésia me beijasse na boca tenderia para o mar, mas foi Cassandra quem me abraçou.
VIII.
Numa seara da Boémia, duas ceifeiras colhem trigo, uma conta para outra a noite que passou com o seu amigo: Um louva-a-deus olha para elas.
Na Provença os louva-a-deus são vistos como insectos adoradores do diabo, pelas suas patas fixas para o céu. Seja como for, adoram algo, adoram como quem está vivo. As ceifeiras riem-se. A visão do louva-a-deus é fragmentada. Os louva-a-deus fêmea arrancam a cabeça do macho durante o sexo, no exacto momento em que este se está a vir. As ceifeiras colhem o trigo e riem-se.
Contava-se que no deserto um eremita com muita sede e fome, viu um louva-a-deus. Seguiu o caminho que as patas do insecto indicavam, ele estava em posição de abandono, numa quase meta-morte que o protegia dos predadores pensando-o inanimado. O eremita seguiu para sul. Pouco mais à frente viu um prado com um rio. Aí alimentou-se e bebeu. Mais tarde voltou ao local com vários eremitas para aí criar uma cidade em forma de estrela. Mandou vir fabricantes de sinos, adoradores de ídolos, construtores de telhas e de tijolos. Vários fornos foram montados para fazerem tijolos para as torres latinas. No cimo de cada torre havia um sino: um menino também que o badalava. No centro da cidade em forma de estrela estava um pequeno palácio de vidro. Aí dentro estava guardado o esquecimento. Quem lá entrasse não teria uma única recordação mais na sua vida. Toda a memória se ia. Depois as memórias de todos iam por pequeninos canais para o Nilo e desaguavam no Mediterrâneo. As memórias engrossavam as estrelas-do-mar e eram o seu único alimento: gorduroso, extremamente táctil e vital mas invisível. Como se fosse uma medusa, a mais perversa medusa, a memória amamentava-as, aumentava as pontas da rede. Mas de que rede se poderia falar? De uma invisível, única. Por uma visão fragmentada as meninas desciam os rios em direcção ao Mar Negro.
IX.
O homem não legitima, a luz legítima
Entra trémula na casa da possibilidade, oferece-se aos homens. A possibilidade sopra a noite de dentro dos búzios, e a noite cai, espalha-se em rede, os homens dormem e, enquanto dormem, o sol sopra a noite para cima devagar. A amnésia lambe-me os ouvidos, o farol dá o sinal – Há simbologias recorrentes no seu uso da escrita:
A alegoria é sempre doce e azeda ao mesmo tempo, a alegoria é citrina, ácida, tende para os pólos, para os unir. A vigília lambe-me os pulsos e faz com que eu seja todos os narradores, estou no centro da torre latina, a espera é extremamente ácida. Estou dentro da amnésia, venho-me dentro dela, ficamos abraçados, a anulação do medo é a morte, a morte entra no quarto, com o seu rabo aceso. Não vou personificar mais nenhum sentimento ou estado. Pois todos os estados são fêmea, como duas irmãs gémeas.
O homem não legitima, a luz legítima: A memória chora leite condensado para cima da Escócia – Como se fosse neve, dentro das órbitas dos olhos o sol reflectido
A minha profissão é a de guarda, guardo uma pirâmide, um supermercado, um rebanho, uma multinacional de próteses, um segredo, ou um olhar doce e triste, não sei bem o que guardo, mas guardo com todas as minhas forças, na retina, no meta-plasma, faço uma gravura daquilo que guardo.
O homem não legitima, só a luz legítima.
X.
Fragmento-me, uno-me dentro da amnésia, com Cassandra a puxar a minha luz, ela sai silenciosa. O avião levantou voo, e não há como arrebentar, cair, aterrar, só há como estar em cima. Sou a vontade em tudo malhada de te ver sorrir, espalho-me. A mulher sai da água.....................................................................................................................
Cronos espalha-se dentro dela, ela lambe-lhe os pulsos, Cronos possui a amnésia, o seu sexo incha de prazer, a respiração é cada vez mais rápida. Ela tem uma faca na mesinha de cabeceira. Cronos está prestes a perder todas as memórias. Está-se a vir: A amnésia está por cima, possuída de um prazer extremo - espeta-lhe a faca nas costas. O tempo pára ......................................................................
A amnésia segura uma cidade santa na mão, pela alegoria mais doce injecta leite condensado no peito: Aqui o novelo desenrola-se todo, a natureza humana cria a rede, a natureza humana precisa da rede. A rede viola as filhas da revolução, estão meias de licra espalhadas por toda a cidade. A rede infiltra-se em todos os corações – A meio do caminho há uma puma, devora o caminho para trás, mete a cabeça no forno, escreve a primeira ode, a primeira ode vai com o vento,
é o fim da poesia,
toda ela entra nos casulos,
uma procissão de búfalos subaquáticos atravessa a cidade.
Um dia as águas vão subir e vão trazer o Rober, é a natureza humana que fala.
XI
Um imperador chinês mandou que destruíssem todos os livros, queimados pelo fogo, mandou preservar apenas os tratados de medicina e de jardinagem, também um ou outro texto que falasse da imortalidade, construiu uma muralha que cobrisse todo o império: A rede entrou no império. Mas o imperador mandou que os jardineiros fossem cortar as pontas à rede. Mas a rede é invisível, não se vêem as pontas. Também não se vêem os nós que elas fazem: A amnésia segura uma cidade santa na mão e um farol na outra. Desenha um círculo a giz. No meio está um sapo, escreve o nome "Cassandra" num papel, e mete o papel na boca do sapo. Depois coze a boca do sapo e enterra-o vivo. Mete terra no buraco. O sapo morre asfixiado. Cronos está dentro dela – Mas está morto. Não há acção possível, foi tudo como um mergulho da ficção na realidade. Mas quem voltou à superfície não trazia cara alguma – Trazia a cara de todos. A amnésia dá-nos a mão, procura um fio condutor, corta esse fio condutor, a novela fragmenta-se... A luz trémula brilha nos olhos negros de Cassandra.
quinta-feira, 23 de junho de 2011
Duas variantes de coisas que ligam
Dormia com um labirinto de espuma dentro de si: o criador da escrita, através da qual todas as narrativas seriam feitas. Tinha no pulso um relógio em decomposição, orgânico e perene como qualquer gesto. De vez em quando os fios do labirinto ficavam da cor do âmbar e aí as pessoas perdiam-se porque só conseguiam olhar para os muros. No centro estava um touro quente. Disse-me um anjo que o labirinto estava desnivelado e tendia para o mar. Quinze eram as entradas e as saídas. A música também entrava no labirinto e ela perdia-se como todos e como todos desenhava a saída no ar. Dormia com o labirinto dentro. Cassandra, a que nada esquece, entrava no labirinto e encontrava a amnésia bem no centro. A amnésia transportava pólen nas patas de uns contos para os outros e ia fertilizando o estilo novo. Ele dormia, há quinze séculos, sem se aperceber que as águas tinham subido até ao quarto andar. E os blocos de notas estavam todos molhados. Também estavam molhadas as fotografias. A amnésia mete gel no cabelo, e uma mini-saia vermelha. Está no centro do labirinto que ora é um labirinto ora é uma rede. As pessoas perdem-se na mesma. É da natureza das pessoas perderem-se, é tão natural como um movimento de vanguarda, como uma abelha, como um copo de água. O labirinto é em tudo líquido embora por vezes as suas paredes congelem. Cassandra deita-se com a amnésia. E o psicólogo perguntava – O que é que inventou afinal? – A escrita – Respondia o labirinto – O mar cobria o psicólogo, depois o mar inundava o labirinto e ficavam algas no meio e bem no centro um esqueleto de baleia. Dormia com várias coisas que ligam dentro dele – Tens de te pôr nos olhos dos outros – Disse-me o caderno quadriculado, ou foi a minha mãe? As pessoas perdem-se na mesma, para se encontrarem. Do outro lado da morte – Dizia o labirinto através de um estranho eco. O eco descalçava-se e entrava no mar, e no continente seguinte ouvia-se o mesmo poema em métrica sáfica. O poema a lavrar os campos de trigo da América – Na forma de tractor. As pessoas perdem-se na mesma e por cima delas o sol brilha e reflecte-se nos espelhos do veleiro. Escreveu "Alegoria final" e "Composição sobre o gelo". Deitou-se (com o labirinto dentro) nunca tinha dormido.
Coisas que ligam
Tu que tudo desatas, prende-me novamente, animal invencível, amor
Safo
****************************************
Cassandra está na praia a fazer barquinhos de papel, de um caderno preto, com poemas seus de há muito tempo. Faz mais de cem barquinhos, depois entra no mar e vai pondo os barcos na água; Vê alguns irem ao fundo, outros são arrastados para areia. Alguns deles desaparecem, vão com as ondas. Um dos barcos tem escrito a marcador "Sentir é dois" – Outros versos do Rilke vão pelo mar dentro.
Vem ter à praia um veleiro, e nesse veleiro vem a amnésia: com os seus pés quadriculados e luvas brancas. A amnésia mergulha e nada até à areia. A amnésia segura Cassandra, beija-a na boca. As duas ficam de mãos dadas, mergulham. O mensageiro toca num piano de uma esplanada da praia a "petite suite" de António Fragoso: fica a ver, com as mãos trémulas, as duas a nadaram. A mensagem é o próprio mensageiro. Os barcos de papel vão cada vez mais longe.
A amnésia possui Cassandra debaixo de água. Cassandra esquece, esquece-se de tudo. O dia está roxo.
A amnésia conduz Cassandra a um túnel que passa por baixo da América - Abre a caixinha do sono, o sono liberta-se e os homens dormem. Cassandra dorme por fim; Nunca tinha dormido. E do seu sono cria-se a música, o primeiro esquecimento que corrige a vida: Começa a vida nova.
A amnésia cria a noite, e da noite faz o medo. O medo é quadriculado e chora cal para cima do seu diário. Um choro ácido que queima o papel e deixa furos no caderno de uma vida. Depois fecha o diário e atira as chaves ao mar - A amnésia cria outras coisas que ligam, e dá as coisas que ligam aos homens. Dá-lhes a rede, a possibilidade, o medo e o dia. A amnésia beija o nosso século na boca, dá-lhe de beber, a bebida é uma rede líquida, uma rede que parece âmbar. O nosso século lambe a amnésia – Antes isto tudo era mar – Há um esqueleto de baleia no cimo desta serra; O escritor mete o sono num círculo, o círculo está fechado. Ninguém dorme. Os que têm as chaves protegem o círculo. Os sinos dobram. O círculo é fluorescente. Um futuro antiquário compra o círculo do sono. Há quinze mil anos atrás. Porque nunca dormiu. A amnésia lê o diário – Hà lá várias frases sublinhadas, citações de Cesariny, Cioran. A amnésia tem a noite na mão, dá a noite a comer a uma cotovia, e a cotovia levanta voo, e vai deixando cair bcados de noite do bico por onde passa, da Austrália ao Cabo Horn tudo fica escura. Depois volta para o seu ninho. Adormece.
****************************************
Safo
****************************************
Cassandra está na praia a fazer barquinhos de papel, de um caderno preto, com poemas seus de há muito tempo. Faz mais de cem barquinhos, depois entra no mar e vai pondo os barcos na água; Vê alguns irem ao fundo, outros são arrastados para areia. Alguns deles desaparecem, vão com as ondas. Um dos barcos tem escrito a marcador "Sentir é dois" – Outros versos do Rilke vão pelo mar dentro.
Vem ter à praia um veleiro, e nesse veleiro vem a amnésia: com os seus pés quadriculados e luvas brancas. A amnésia mergulha e nada até à areia. A amnésia segura Cassandra, beija-a na boca. As duas ficam de mãos dadas, mergulham. O mensageiro toca num piano de uma esplanada da praia a "petite suite" de António Fragoso: fica a ver, com as mãos trémulas, as duas a nadaram. A mensagem é o próprio mensageiro. Os barcos de papel vão cada vez mais longe.
A amnésia possui Cassandra debaixo de água. Cassandra esquece, esquece-se de tudo. O dia está roxo.
A amnésia conduz Cassandra a um túnel que passa por baixo da América - Abre a caixinha do sono, o sono liberta-se e os homens dormem. Cassandra dorme por fim; Nunca tinha dormido. E do seu sono cria-se a música, o primeiro esquecimento que corrige a vida: Começa a vida nova.
A amnésia cria a noite, e da noite faz o medo. O medo é quadriculado e chora cal para cima do seu diário. Um choro ácido que queima o papel e deixa furos no caderno de uma vida. Depois fecha o diário e atira as chaves ao mar - A amnésia cria outras coisas que ligam, e dá as coisas que ligam aos homens. Dá-lhes a rede, a possibilidade, o medo e o dia. A amnésia beija o nosso século na boca, dá-lhe de beber, a bebida é uma rede líquida, uma rede que parece âmbar. O nosso século lambe a amnésia – Antes isto tudo era mar – Há um esqueleto de baleia no cimo desta serra; O escritor mete o sono num círculo, o círculo está fechado. Ninguém dorme. Os que têm as chaves protegem o círculo. Os sinos dobram. O círculo é fluorescente. Um futuro antiquário compra o círculo do sono. Há quinze mil anos atrás. Porque nunca dormiu. A amnésia lê o diário – Hà lá várias frases sublinhadas, citações de Cesariny, Cioran. A amnésia tem a noite na mão, dá a noite a comer a uma cotovia, e a cotovia levanta voo, e vai deixando cair bcados de noite do bico por onde passa, da Austrália ao Cabo Horn tudo fica escura. Depois volta para o seu ninho. Adormece.
****************************************
sexta-feira, 17 de junho de 2011
A mais negra
I.
A memória dobra-se, estende-se pelos campos cheios de pirilampos – Sou ela, nado no fundo do lago de Patrícia; estou em todas as línguas, nas suas fronteiras quentes e fluorescentes – Passo: passo sempre, segura: preciso de calor, tenho a boca torta cheia de medo e o coração recheado de leite condensado: No meu útero um relâmpago, bebo o caminho que tenho à frente porque o futuro é líquido, derrete-me da boca. Sou a possibilidade em tudo múltipla de te ver sorrir : Recheio-te de estrelas – Nunca lhes cortarei as pontas, nunca lhes cortarei as pontas – Deixá-las crescerem, entrarem na rede, precisamos da rede, mas comemo-la; ela equilibra-nos, mas ela faz-nos perder - as pontas da estrela crescem outra vez: Entram nas casas: Do Pólo Norte à Austrália. Na Nova Zelândia abrem a porta à estrela, ela entra, cheia de sede, porque procura, procura perder-se no interior do humano, duplo-poço contínuo. Sou a memória, uma rede contínua, às vezes estendem-me pelos campos,tapo os pirilampos com o meu manto de seda e vêem-se várias luzes fluorescentes sobre o pano que sou eu
.....................................................................................
II.
Estou agora num ringue de gelo em Viena, e as tropas aliadas estão prestes a entrar aqui, a ficção mergulha na realidade, escrevo um verso de Rilke no gelo "Sentir é dois"; "Amar é mais" completa um outro patinador que vem atrás de mim, o registo é logo apagado por outros patinadores, outras linhas se sobrepõe a mim, memória última: no gelo, na comunicação, na história da humanidade – O patinador que me segue escreve outro poema, e as linhas dos patins no gelo tornam-se fluorescentes por instante, enquanto os americanos entram na cidade lê-se um poema que fala de perenidade, de gelo e de girassóis, o poema é assinado por Alma Mahler, sujeito poético do patinador que me segue. No gelo escreve outros aforismos aos quais logo se sobrepõem outras riscas de patins – Nunca se apagou nada até hoje, sempre se falou/escreveu/criou por cima, apagar é impossível, apenas é possível renovar, revitalizar, criar por cima – Os patins são de marca – Sou a memória: tenho uns patins suiços, de marca, já competi na Suécia, já estive dentro dos cactos: Ao meu lado dorme um homem que quer esquecer – Acorda, levanta-me a saia beje, fala de Alma Mahler, fala-me de um avião que como todos aviões não pode cair, não pode voar, não pode arrebentar, apenas lhe é permitido subir e chegar ao seu destino: A torre latina de escada em caracol tomba, o continente treme de líbido, não se consegue conter mais, do Perú ao Equador todos os faróis dão o sinal, uma pirâmide de fogo está em fuga contínua pelo deserto. Meteste-me pirilampos no cabelo, no porto de Lima, à noite escura, num sopro quente de Verão: o Chile parte-se ao meio - a amnésia beija-nos na boca – Temos caminho à nossa frente e bebemo-lo – A amnésia diz: isto e aquilo deve ser esquecido, e por isso a pirâmide cavalga, em fogo, cheia de botijas de gás dentro. A tempestade beija a amnésia. Nossa Senhora da fertilidade recheia-me o útero de relâmpagos e cerejas – A amnésia mete a música entre as pernas, é a pintora mais perversa; pinta árvores, mete céu entre as árvores – Possuí a música que possuí o céu, que possuí a cidade – Os muros precisam de ajuda, toca um trompete do quarto andar, por uma alegoria mais doce, a ficção mergulha na realidade. Atirei a chave do diário para o fundo do mar, o farol acendeu-se.
.....................................................................................
III.
Levantaram-me as saias nas traseiras do convento, um homem que quer esquecer, injecto-lhe uma vontade Nova nos olhos, vejo-os descerem pela montanha, alguém me escreveu uma carta: Não te esqueças de ir para a varanda ver esses olhos verdes passarem/ fugirem/ desaguarem no mar – Vejo todos os olhos em fuga, todos os olhares a descerem pela montanha, a dobrarem-se sobre o seu próprio eixo, por uma visão Plena* Uma visão que tudo abarca, todos os sentidos a fazerem tremer a terra: ela não aguenta mais o seu líbido e treme; Sou a mais obssessiva de todas as paixões, tenho um gorro azul que a loucura me deu – E não consigo esquecer, como Cassandra, tudo absorvo, como uma esponja da alma condenada à mais doce e pergisa das penas, nada esquecer – A patinadora escreve agora uma ode de Ricardo Reis, depois uma de Petrarca e um homem sentado ao lado do ringue aponta tudo numa mortalha, todos os poemas, depois enrola tabaco nas mortalhas e fuma-os – No gelo as marcas também desaparecem, a letra carolina de uma caligrafia perfeita fica com riscos por cima – São agora muitos os patinadores. Os exércitos americanos entram na cidade. Viena está pronta para ser aliada. A guerra é agora um fio com que brinca um gato, um fio que une os pólos. Um fio que é um dia de chumbo. Pedi ao patinador que me segue que personificasse um sentimento: ele personificou o medo: Escreveu que ele era quadriculado e em tudo geométrico, como o voo previsivel de uma mosca, mas que tudo agarra por trás como uma rede. Levantaram-me as saias nas traseiras de um convento, um homem que quer esquecer: a minha saia é curta e beje – Vejo do canto do espelho três pastorinhos búlgaros, os que velam: para que seja noite e dia ao mesmo tempo, um dia roxo – A amnésia beija-nos na boca, a ficção mergulha na realidade – Vejo-a passar de bicicleta ao lado do Farol de Alexandria, com os barcos ao fundo, os amantes ao fundo; ao fundo também eu, novelo que faz esquecer – Que as minhas mãos ardam se me esquecer dos teus olhos – Estamos na Guerra Colonial, estou na líbido de um soldado português:
- E então eu dizia às pretas: Punho Punho – E elas batiam-me uma punheta.
.................................................................................................................................
Apressei o fim da história, virei todas as páginas com os meus dedos compridos: os sósias do fundo alimentam-se da minha líbido: Estou no lago quente de Patrícia, onde todos os que aquecem se banham. Os sósias do fundo são só um: o mesmo homem com a mesma touca às riscas. Olham-se num espelho Barroco abandonado no fundo do lago. De vez em quando inventam a escrita para que novas civilizações contem as suas histórias, as transmitam aos seus descendentes: Tornam a Literatura Possível – Injectam leite condensado na Estrela para que as suas pontas cresçam com mais força: A literatura entra em todas as casas, acende todos – Dormem no meio das balizas subaquáticas. O seu empate é uma forma de amor. De que falamos quando falamos dele? Um diário de uma vida cai de um vigésimo andar. A amnésia possuí o mar, permite as marés, permite a lua que se recheia de encontros. A amnésia leva pólen nas patas, para outro continente. Um abraço pré-hispânico em tudo eterno há-de polarizar todos os movimentos, todos os gestos humanos, toda a Vida* O que há antes dela? Depois dela? Apenas pólen nas patas, um ramo de violetas e uns patins de marca. Os canhões americanos rodeiam o ringue de gelo.
A memória dobra-se, estende-se pelos campos cheios de pirilampos – Sou ela, nado no fundo do lago de Patrícia; estou em todas as línguas, nas suas fronteiras quentes e fluorescentes – Passo: passo sempre, segura: preciso de calor, tenho a boca torta cheia de medo e o coração recheado de leite condensado: No meu útero um relâmpago, bebo o caminho que tenho à frente porque o futuro é líquido, derrete-me da boca. Sou a possibilidade em tudo múltipla de te ver sorrir : Recheio-te de estrelas – Nunca lhes cortarei as pontas, nunca lhes cortarei as pontas – Deixá-las crescerem, entrarem na rede, precisamos da rede, mas comemo-la; ela equilibra-nos, mas ela faz-nos perder - as pontas da estrela crescem outra vez: Entram nas casas: Do Pólo Norte à Austrália. Na Nova Zelândia abrem a porta à estrela, ela entra, cheia de sede, porque procura, procura perder-se no interior do humano, duplo-poço contínuo. Sou a memória, uma rede contínua, às vezes estendem-me pelos campos,tapo os pirilampos com o meu manto de seda e vêem-se várias luzes fluorescentes sobre o pano que sou eu
.....................................................................................
II.
Estou agora num ringue de gelo em Viena, e as tropas aliadas estão prestes a entrar aqui, a ficção mergulha na realidade, escrevo um verso de Rilke no gelo "Sentir é dois"; "Amar é mais" completa um outro patinador que vem atrás de mim, o registo é logo apagado por outros patinadores, outras linhas se sobrepõe a mim, memória última: no gelo, na comunicação, na história da humanidade – O patinador que me segue escreve outro poema, e as linhas dos patins no gelo tornam-se fluorescentes por instante, enquanto os americanos entram na cidade lê-se um poema que fala de perenidade, de gelo e de girassóis, o poema é assinado por Alma Mahler, sujeito poético do patinador que me segue. No gelo escreve outros aforismos aos quais logo se sobrepõem outras riscas de patins – Nunca se apagou nada até hoje, sempre se falou/escreveu/criou por cima, apagar é impossível, apenas é possível renovar, revitalizar, criar por cima – Os patins são de marca – Sou a memória: tenho uns patins suiços, de marca, já competi na Suécia, já estive dentro dos cactos: Ao meu lado dorme um homem que quer esquecer – Acorda, levanta-me a saia beje, fala de Alma Mahler, fala-me de um avião que como todos aviões não pode cair, não pode voar, não pode arrebentar, apenas lhe é permitido subir e chegar ao seu destino: A torre latina de escada em caracol tomba, o continente treme de líbido, não se consegue conter mais, do Perú ao Equador todos os faróis dão o sinal, uma pirâmide de fogo está em fuga contínua pelo deserto. Meteste-me pirilampos no cabelo, no porto de Lima, à noite escura, num sopro quente de Verão: o Chile parte-se ao meio - a amnésia beija-nos na boca – Temos caminho à nossa frente e bebemo-lo – A amnésia diz: isto e aquilo deve ser esquecido, e por isso a pirâmide cavalga, em fogo, cheia de botijas de gás dentro. A tempestade beija a amnésia. Nossa Senhora da fertilidade recheia-me o útero de relâmpagos e cerejas – A amnésia mete a música entre as pernas, é a pintora mais perversa; pinta árvores, mete céu entre as árvores – Possuí a música que possuí o céu, que possuí a cidade – Os muros precisam de ajuda, toca um trompete do quarto andar, por uma alegoria mais doce, a ficção mergulha na realidade. Atirei a chave do diário para o fundo do mar, o farol acendeu-se.
.....................................................................................
III.
Levantaram-me as saias nas traseiras do convento, um homem que quer esquecer, injecto-lhe uma vontade Nova nos olhos, vejo-os descerem pela montanha, alguém me escreveu uma carta: Não te esqueças de ir para a varanda ver esses olhos verdes passarem/ fugirem/ desaguarem no mar – Vejo todos os olhos em fuga, todos os olhares a descerem pela montanha, a dobrarem-se sobre o seu próprio eixo, por uma visão Plena* Uma visão que tudo abarca, todos os sentidos a fazerem tremer a terra: ela não aguenta mais o seu líbido e treme; Sou a mais obssessiva de todas as paixões, tenho um gorro azul que a loucura me deu – E não consigo esquecer, como Cassandra, tudo absorvo, como uma esponja da alma condenada à mais doce e pergisa das penas, nada esquecer – A patinadora escreve agora uma ode de Ricardo Reis, depois uma de Petrarca e um homem sentado ao lado do ringue aponta tudo numa mortalha, todos os poemas, depois enrola tabaco nas mortalhas e fuma-os – No gelo as marcas também desaparecem, a letra carolina de uma caligrafia perfeita fica com riscos por cima – São agora muitos os patinadores. Os exércitos americanos entram na cidade. Viena está pronta para ser aliada. A guerra é agora um fio com que brinca um gato, um fio que une os pólos. Um fio que é um dia de chumbo. Pedi ao patinador que me segue que personificasse um sentimento: ele personificou o medo: Escreveu que ele era quadriculado e em tudo geométrico, como o voo previsivel de uma mosca, mas que tudo agarra por trás como uma rede. Levantaram-me as saias nas traseiras de um convento, um homem que quer esquecer: a minha saia é curta e beje – Vejo do canto do espelho três pastorinhos búlgaros, os que velam: para que seja noite e dia ao mesmo tempo, um dia roxo – A amnésia beija-nos na boca, a ficção mergulha na realidade – Vejo-a passar de bicicleta ao lado do Farol de Alexandria, com os barcos ao fundo, os amantes ao fundo; ao fundo também eu, novelo que faz esquecer – Que as minhas mãos ardam se me esquecer dos teus olhos – Estamos na Guerra Colonial, estou na líbido de um soldado português:
- E então eu dizia às pretas: Punho Punho – E elas batiam-me uma punheta.
.................................................................................................................................
Apressei o fim da história, virei todas as páginas com os meus dedos compridos: os sósias do fundo alimentam-se da minha líbido: Estou no lago quente de Patrícia, onde todos os que aquecem se banham. Os sósias do fundo são só um: o mesmo homem com a mesma touca às riscas. Olham-se num espelho Barroco abandonado no fundo do lago. De vez em quando inventam a escrita para que novas civilizações contem as suas histórias, as transmitam aos seus descendentes: Tornam a Literatura Possível – Injectam leite condensado na Estrela para que as suas pontas cresçam com mais força: A literatura entra em todas as casas, acende todos – Dormem no meio das balizas subaquáticas. O seu empate é uma forma de amor. De que falamos quando falamos dele? Um diário de uma vida cai de um vigésimo andar. A amnésia possuí o mar, permite as marés, permite a lua que se recheia de encontros. A amnésia leva pólen nas patas, para outro continente. Um abraço pré-hispânico em tudo eterno há-de polarizar todos os movimentos, todos os gestos humanos, toda a Vida* O que há antes dela? Depois dela? Apenas pólen nas patas, um ramo de violetas e uns patins de marca. Os canhões americanos rodeiam o ringue de gelo.
quarta-feira, 8 de junho de 2011
Meta-sono
Que a amnésia nunca nos beije na boca: Roberto Bolaño – Manifesto Infrarrealista
O sono descalça-se, desenha o trigo a aguarela,
Amarelo que foge com o vento,
o sono descalça-se.
Como um fabricante de sinos do futuro,
o lavrar subaquático dos campos de Marte:
mudámos as linhas, todas,
acelarámo-as em direcção ao coração;
Jiacina abre a caixinha do sono, ele expande-se em rede,
como uma estrela fluorescente,
entra nas casas, nos prédios, nos edifícios municipais,
os homens dormem:
O sono põe céu entre as árvores
e põe céu entre as casas, e põe o céu entre as pernas –
o céu permite a música,
o céu acorda a música,
o céu possuí a música –
A música põe o céu entre as pernas,
como uma cabeça viva, extremamente viva –
O orgasmo das raparigas é clitorial – o céu sabe isso –
O céu lambe a música, o sono foge para dentro dos búzios
com as suas meias de lã grossa, de fora,
por uma alegoria mais doce injectamos leite condensado no peito,
na sede de contar uma história hiper-real
recheámos uma estrela suicida de memórias,
ela escreve a giz no espelho que o sono venceu o medo,
e que a música venceu o medo:
a casa é mais ampla agora, o arado sulca a terra fluorescente,
pelo fim de todos os símbolos damos a mão,
pelo último mito bebemos da boca:
uma só –
Lancetaram o útero à loucura
só ela pode ter filhos –
O amor é a união do medo com a música,
tinha a boca ao lado e a vontade de possuir tudo.
Jiacina liberta o sono,
ele cai da boca como leite condensado:
o sono têm a música entre as pernas –
Já só é possível a calma.
quinta-feira, 2 de junho de 2011
outra forma de mentir
I.
Sou a verdade, uso uma mini-saia vermelha,
Vejo os homens masturbarem-se das suas janelas enquanto me olham,
passo nas ruas de Alexandria, Berlim, Tóquio, Budapeste,
Bernini esculpiu-me, Whitman descreveu-me
mas nunca nenhum homem me possuiu
Por mim correrão futuros antiquários ainda por nascer
Afundo-os de desejos, mutilo-lhes os sonhos
Sou múltipla e tudo acendo sobre a forma de calor,
Quem tem medo está mais próximo de mim, estou na boca dos amantes,
Nos seus ternos abraços:
II.
A minha visão é fragmentada de tanto olhar para o sol,
um fabricante de sinos do futuro, também ele cego,
mergulha dentro de mim e badala como do fundo de um lago suíço,
não tenho sono, nunca dormi até hoje,
ouço o badalar link link link link,
subaquático e triste:
Todos os comboios correm até mim,
velo o sono de um faroleiro com medo do escuro,
teço-lhe os sonhos de fios dourados,
puxo as extremidades para o centro da alma e sento-me a chorar,
também eu tenho medo do escuro e me deito à sombra
as cidades possuem o céu,
o céu possuí a música
e a música possuí-me a mim,
sou todas as viagens, a meus pés construíram Tróia,
os semi-deuses esculpiram Cápri dos meus joelhos -
A amnésia beijou-me a boca;
O futuro líquido na forma de dois joga pólo aquático consigo mesmo,
tudo é um, tudo está condenado a ser um,
criei a poesia, teço todas as narrativas,
mergulho em todas as prosas,
todas as ficções me atravessam a nuca,
de um ao outro lado um comboio apita, um rio passa,
acorda um gato em queda,
os homens têm caminho à sua frente
e bebem o caminho, porque têm sede e o futuro é de beber,
as memórias também são de beber, o amor é líquido,
apesar de não existir também eu bebo o caminho:
Nado dentro de todos os homens;
Não penso, sinto, não corro, minto.
..............................................................................
Sou a verdade, uso uma mini-saia vermelha,
Vejo os homens masturbarem-se das suas janelas enquanto me olham,
passo nas ruas de Alexandria, Berlim, Tóquio, Budapeste,
Bernini esculpiu-me, Whitman descreveu-me
mas nunca nenhum homem me possuiu
Por mim correrão futuros antiquários ainda por nascer
Afundo-os de desejos, mutilo-lhes os sonhos
Sou múltipla e tudo acendo sobre a forma de calor,
Quem tem medo está mais próximo de mim, estou na boca dos amantes,
Nos seus ternos abraços:
II.
A minha visão é fragmentada de tanto olhar para o sol,
um fabricante de sinos do futuro, também ele cego,
mergulha dentro de mim e badala como do fundo de um lago suíço,
não tenho sono, nunca dormi até hoje,
ouço o badalar link link link link,
subaquático e triste:
Todos os comboios correm até mim,
velo o sono de um faroleiro com medo do escuro,
teço-lhe os sonhos de fios dourados,
puxo as extremidades para o centro da alma e sento-me a chorar,
também eu tenho medo do escuro e me deito à sombra
as cidades possuem o céu,
o céu possuí a música
e a música possuí-me a mim,
sou todas as viagens, a meus pés construíram Tróia,
os semi-deuses esculpiram Cápri dos meus joelhos -
A amnésia beijou-me a boca;
O futuro líquido na forma de dois joga pólo aquático consigo mesmo,
tudo é um, tudo está condenado a ser um,
criei a poesia, teço todas as narrativas,
mergulho em todas as prosas,
todas as ficções me atravessam a nuca,
de um ao outro lado um comboio apita, um rio passa,
acorda um gato em queda,
os homens têm caminho à sua frente
e bebem o caminho, porque têm sede e o futuro é de beber,
as memórias também são de beber, o amor é líquido,
apesar de não existir também eu bebo o caminho:
Nado dentro de todos os homens;
Não penso, sinto, não corro, minto.
..............................................................................
quarta-feira, 1 de junho de 2011
I.
Sou a culpa,
Tenho o útero recheado de girassóis
e a boca cheia de relâmpagos –
as minhas mãos são às manchas,
os meus dedos tocam todos por dentro,
dobram como sinos,
desenrolam a memória -
As sombras provam-nos que há sol
mergulho nele – um abraço desde dentro,
sou a culpa, o meu século é às manchas e
é só mergulho em acto contínuo
...........................................................................................................................
II.
A dor é azul,
O medo é azul,
marítima é também a vontade de te abraçar,
de nadar por ti dentro,
só o riso é deus, só ele molda verdadeiramente as caras,
só ele folheia verdadeiramente e abre,
vêm a voz e recheia-me de relâmpagos,
O anjo lambe o futuro
Sou a culpa,
Tenho o útero recheado de girassóis
e a boca cheia de relâmpagos –
as minhas mãos são às manchas,
os meus dedos tocam todos por dentro,
dobram como sinos,
desenrolam a memória -
As sombras provam-nos que há sol
mergulho nele – um abraço desde dentro,
sou a culpa, o meu século é às manchas e
é só mergulho em acto contínuo
...........................................................................................................................
II.
A dor é azul,
O medo é azul,
marítima é também a vontade de te abraçar,
de nadar por ti dentro,
só o riso é deus, só ele molda verdadeiramente as caras,
só ele folheia verdadeiramente e abre,
vêm a voz e recheia-me de relâmpagos,
O anjo lambe o futuro
quarta-feira, 25 de maio de 2011
Zahut II
O futuro joga badmington consigo mesmo, na forma de dois: derrete pelos olhos, provoca uma visão fragmentada, distorce, soluciona, apresenta-se como alucinação na parte de trás da nuca, nada como uma estrela de várias pontas por ti dentro, como um comboio percorre-te a nuca, os braços: uma infra-língua lambe a civilização assustada. Folheamos de forma apressada o genocídio do Darfur; Na casa diante do mundo com os seus grandes espelhos. O futuro sobe pela coluna na alucinação dos cactos, é só um gato em queda contínua, vertical como a música. Zahut esconde o sono numa caixinha pequena, forrada por dentro de celofane azul. Depois vai brincar com as montanhas, muda-as de sítio, de vez em quando mete uma montanha na boca – Com os seus sinos de bronze a tocarem – A montanha branca, o lago, dentro da boca – O futuro a vestir os seus calções justos, só vigília de várias pontas acesas, porque o sono está numa caixinha. O futuro escreve. Zahut escreve, mete o medo num saco, fuma o medo e vai brincar com as montanhas, em mortalha de prata, vertical como a música. O último símbolo anda de patins no ringue: Zahut escreve porque tem medo e abraça-se a Jiacina. A entropia aumenta o sinal, fortalece-o de ligações mais fortes e seguras, a estrela nada por eles, dentro deles.
Zahut
Deram um livro a Zahut sobre metalinguagem. Zahut não percebeu o livro e atirou-o ao lixo, depois veio falar comigo e disse que não gostava de metalinguagem nem de linguagem em geral, pediu-me um conselho para acabar com a linguagem: Olhei-o, a sua cara parecia um triângulo assustado. Disse-me depois que queria fazer uma gelatina de linguagem, de toda a linguagem. Respondi-lhe de forma segura que isso seria impossível, porque não é possível fazer uma coisa física de uma ideia, ou de uma abstracção, disse-lhe que isso só seria possível na literatura, só a literatura une o mundo das ideias ao mundo físico. Zahut não concordou comigo e disse que ia organizar uma reunião para a qual iria convidar os melhores linguistas e estudiosos da fonética, assim como os principais fabricantes de produtos alimentares a nível mundial. A reunião foi marcada, Zahut disse que me iria mandar as actas para o mail. Nunca mais as recebi.
terça-feira, 17 de maio de 2011
Alegoria de Safo
I.
Faón tinha uma joaninha a subir-lhe o pulso, a pulsação era forte e segura, guiava-se pelas veias azuis: fazia muito calor na praia em frente ao mar Jónio. Vinte e cinco séculos depois os navios aliados chegavam à praia. Fazia muito calor, não é da natureza das joaninhas estarem nas praias, mas sim nos jardins. A escola de fêmeas tinha um jardim que dava para a praia; fazia muito calor. Safo segurou-lhe o antebraço, pôs-lhe a mão no peito. Faón não resistiu. Era sua aluna na escola de fêmeas. Por essa altura as lições eram sobre a possibilidade e a aparição. Discutia-se Heidegger vinte e cinco séculos antes de ele ter nascido, e ainda pouco tempo depois de surgir a virtualidade da escrita já Safo se perdia nos links da loucura. A joaninha levantou voo e foi pelo mar fora.
II.
Faón tinha pena de Safo, uma forma estranha de adoração, misturada com um pouco de vergonha. Safo era já velha. Estava completamente apaixonada por Faón. Escrevia à noite rolos inteiros de poemas, na métrica depois chamada sáfica, sobre o peito de Faón, o calor, a energia de Faón. Ouvia o pássaro de fogo de Stravinsky lá fora, vinte e cinco séculos antes da sua aparição. O pássaro de fogo a entrar pela janela, a atravessar-lhe o peito: Faón era a sua melhor aluna. Nesse tempo discutiam a possibilidade e as alunas escreviam sobre Heidegger. Faón resistia nos intervalos. Não sentia atracção por mulheres.
III.
Heidegger dizia que o manifestar-se é um não mostrar-se, ao mesmo tempo, na mesma linha de tempo, onde cabem todos eles, todos os fenómenos, Safo entrava nas águas quentes do mar Jónio com Faón, Faón dava-lhe a mão. Por pena, sentia apenas uma grande admiração, embora soubesse que já há muito a tinha ultrapassado no conhecimento de Heidegger e do futuro. O futuro líquido percorria-lhe o pulso e Safo lambia-lhe o pulso. Sentiam as algas nos pés, era de noite, a água estava muito quente.
IV.
Assim que Safo se lançou do promontório para o mar Jónio, as águas subiram mais um pouco: Mais tarde provocaria uma inundação em Veneza assim que a cidade fosse formada, porque o mar guarda um rápido registo, uma saga aflita, na memória dos moluscos do fundo, nos casulos marinhos. Franz Gillparzer escrevia em Viena cinco actos para uma peça sobre Safo. Estavamos no início do século XIX.
V.
Faón tinha-se apaixonado por um rapaz. Safo notava a sua desatenção nas aulas. Resistia-lhe agora, tornava-se mais distante. O mar subia em métrica sáfica, em links apressados que conduziam fios para dentro de Safo. Link, ouvia-se link, as joaninhas a levantarem voo com o calor no jardim da escola, suspenso por alicerces seguros. O rapaz calcava as uvas. Safo e Faón provavam o vinho tinto mais tarde, quente na praia. Deram o último beijo. Safo chorou a noite toda, deixou que o pássaro de fogo lhe picasse os olhos e dançou. Ligou a internet, viu o último texto de Faón, digitalizado do papiro, a narrativa falava sobre a perenidade de um beijo, sobre escalas de tempo apressadas, sobre casulos, sobre girassóis,tartarugas, labirintos e anagramas. A narrativa incluía poemas de métrica Sáfica. Safo correu para o bosque. Foi aconselhada por um dos que fazem esquecer. Aconselhou-a a lançar-se ao mar. Dirigiu-se ao promontório. Atirou-se.
Faón tinha uma joaninha a subir-lhe o pulso, a pulsação era forte e segura, guiava-se pelas veias azuis: fazia muito calor na praia em frente ao mar Jónio. Vinte e cinco séculos depois os navios aliados chegavam à praia. Fazia muito calor, não é da natureza das joaninhas estarem nas praias, mas sim nos jardins. A escola de fêmeas tinha um jardim que dava para a praia; fazia muito calor. Safo segurou-lhe o antebraço, pôs-lhe a mão no peito. Faón não resistiu. Era sua aluna na escola de fêmeas. Por essa altura as lições eram sobre a possibilidade e a aparição. Discutia-se Heidegger vinte e cinco séculos antes de ele ter nascido, e ainda pouco tempo depois de surgir a virtualidade da escrita já Safo se perdia nos links da loucura. A joaninha levantou voo e foi pelo mar fora.
II.
Faón tinha pena de Safo, uma forma estranha de adoração, misturada com um pouco de vergonha. Safo era já velha. Estava completamente apaixonada por Faón. Escrevia à noite rolos inteiros de poemas, na métrica depois chamada sáfica, sobre o peito de Faón, o calor, a energia de Faón. Ouvia o pássaro de fogo de Stravinsky lá fora, vinte e cinco séculos antes da sua aparição. O pássaro de fogo a entrar pela janela, a atravessar-lhe o peito: Faón era a sua melhor aluna. Nesse tempo discutiam a possibilidade e as alunas escreviam sobre Heidegger. Faón resistia nos intervalos. Não sentia atracção por mulheres.
III.
Heidegger dizia que o manifestar-se é um não mostrar-se, ao mesmo tempo, na mesma linha de tempo, onde cabem todos eles, todos os fenómenos, Safo entrava nas águas quentes do mar Jónio com Faón, Faón dava-lhe a mão. Por pena, sentia apenas uma grande admiração, embora soubesse que já há muito a tinha ultrapassado no conhecimento de Heidegger e do futuro. O futuro líquido percorria-lhe o pulso e Safo lambia-lhe o pulso. Sentiam as algas nos pés, era de noite, a água estava muito quente.
IV.
Assim que Safo se lançou do promontório para o mar Jónio, as águas subiram mais um pouco: Mais tarde provocaria uma inundação em Veneza assim que a cidade fosse formada, porque o mar guarda um rápido registo, uma saga aflita, na memória dos moluscos do fundo, nos casulos marinhos. Franz Gillparzer escrevia em Viena cinco actos para uma peça sobre Safo. Estavamos no início do século XIX.
V.
Faón tinha-se apaixonado por um rapaz. Safo notava a sua desatenção nas aulas. Resistia-lhe agora, tornava-se mais distante. O mar subia em métrica sáfica, em links apressados que conduziam fios para dentro de Safo. Link, ouvia-se link, as joaninhas a levantarem voo com o calor no jardim da escola, suspenso por alicerces seguros. O rapaz calcava as uvas. Safo e Faón provavam o vinho tinto mais tarde, quente na praia. Deram o último beijo. Safo chorou a noite toda, deixou que o pássaro de fogo lhe picasse os olhos e dançou. Ligou a internet, viu o último texto de Faón, digitalizado do papiro, a narrativa falava sobre a perenidade de um beijo, sobre escalas de tempo apressadas, sobre casulos, sobre girassóis,tartarugas, labirintos e anagramas. A narrativa incluía poemas de métrica Sáfica. Safo correu para o bosque. Foi aconselhada por um dos que fazem esquecer. Aconselhou-a a lançar-se ao mar. Dirigiu-se ao promontório. Atirou-se.
Carta a Marília II
O pensamento é uma questão de gravidade, empurra-nos para baixo, ao contrário dos sentidos que são em tudo verticais e fazem subir. Não que acredite verdadeiramente nisto Marília, não acredito verdadeiramente em nada. São várias as portas abertas, que nos dirigem a ligações sempre novas e seguras. O Amor é tudo o que faz subir, a sensação e a emoção geram filhos. O pensamento afoga os filhos. Qualquer movimento de vanguarda sabe-o e deve explorar os pólos como a potência vital do homem, anular os pólos e abrir a possibilidade. Habito-a, a dos teus olhos. O nosso século acabou com a legitimação – bebeu de mais e acordou sozinho. Todos os filósofos alemães tinham um dilema antes de ir dormir. Rezar para dentro, fazer um pacto com o futuro, com um fabricante de sinos de uma realidade paralela, atingir o meta-susto perfeito que faz evoluir. Só o amor faz evoluir. Não há caminho, ele abre-se à nossa frente em links imperfeitos. O pensamento abre janelas, mas também afoga. O que dá valor à viagem é o medo, a sua virtualidade, o medo é a mais virtual das portas e recheia-nos de sombras Marília, mas só ele é motor e faz avançar, a civilização gera-se de medo, o medo engrossa as pontas da estrela. A estrela entra na cidade, assusta mas aquece. Aquece-nos a baía trémula de luz, como os lábios húmidos, sempre por fechar porque nada se fecha. Trabalhei todo o dia a partir pedra. Fiz um poema de amor com a ajuda dos heterónimos que me acordaram. Partimos num barco a vapor, esperavas-me do outro lado. Um continente cheio de medo a que chamaram América. Estou preso ao mundo por todos os meus gestos, aos homens por todo o meu reconhecimento. Mas também pelos fios dourados da culpa; também ela guia orientador da civilização. Toda e qualquer civilização leva pólen nas patas e deixa-o cair, espalhar-se pelos campos, como os evangelizadores jesuítas a deixarem a semente fluorescente do cristianismo, nos campos, nas cidades a serem pintadas pelos expressionistas. A minha alegria não têm fim Marília, é a de todos os que partem, e pouco tempo falta para te ver. Sou uma pequena abelha, sou uma pequena abelha, e escrevo ensaios sobre a morte e a para-literatura, a que não a chega a ser. Deus – Mediterrâneo – Força, ergue-se: Construção Link Link Link, A escultura grega decai quando surge o sorriso e o olhar. Há girassóis na nossa casa diante do mar, e os cordeirinhos banham-se a teus pés na rebentação da lua – da casa diante do mundo. Por cima do girassol meteram cimentos – alicerces fortes de uma construção para uma casa de saúde. Nada se fecha. As portas abrem-se, as janelas abrem-se, as rosas brancas abrem-se como num adagietto. Esperamos o fim da narrativa, mas não é um fim é um início eterno aquilo para o qual caminhamos. Na casa diante do mar a ler as partículas elementares, a ler todos os homens, as suas expressões rápidas: Na casa diante do mundo, construída por Camus, a fumar na sua varanda: O sol de frente. Não foram duas, mas quatro Sicílias, aquelas que os remadores de troncos fortes viram quando vieram de Cápri. Quatro cidades de Palermo espalhavam-se pelo deserto, fugidas de sítio. Amar é perder a cara, a identificação. Tudo é um, caminha para o um. Não existe sim e não, os pólos tocaram-se em nó contínuo, desfizeram-se. O carregador tem a perna partida por causa de um acidente de trabalho. Toda a história universal é um acidente de trabalho. Está em recuperação contínua. Um abraço pré-hispânico há-de repetir-se na era nuclear, na verdade nunca acabou porque a arte é um rio, contínuo o seu leito Marília. A arte nunca está acabada, apenas é por vezes abandonada. Mas o abandono é uma forma perversa de criação, porque o tempo contínua a obra. O mesmo se pode dizer da civilização, que é o mesmo que a arte, mas com um pouco mais de pólen. Mandaram-me carregar blocos de pensamento de um lado para o outro. Só depois percebi que eram de pedra.
Carta a Marília
******
Definir poesia é dar as mãos, deixar o ar crescer em espiral, é como atravessar a ria, regar um girassol, toda a poesia simbolista não chega para acender um pirilampo e no entanto ele acende-se no seu cio fluorescente, Link Link Link – Três pastorinhos, escorre-lhes azeite negro pelos beiços, depois da alucinação mais perfeita num boulevard de Paris, leio-os, lês-os, lemos-os, o pirilampo é também representação e recheia-se de noite, de pontes, de pontas seguras que crescem e entram nos prédios – Se tiver saudades de alguma coisa vêm a aranha e come-o. Há métodos seguros de armazenar a memória, nos casulos negros marinhos. A estrela cresce de memória e abraços contra o fim do suporte e do símbolo. O último mito estará escrito na parede, debaixo das árvores e todos trarão antenas nas mãos e bocas cheias de cerejas. O Joaquim deu-me um livro sobre a perenidade. O livro foi escrito pela humanidade inteira. Não era um livro, era uma maçã, eu trinquei a maçã. Vimos a montra, entramos na montra, os artigos eram antigos e desadequados – definir é como estar à sombra, só a luz define, só ela revela e mostra as coisas como aparição, não se mostrar é revelar os outros – a abelha leva o pólen nas patas, a abelha leva o pólen nas patas – Definir é mostrar por dentro, qualquer manifestação é um não mostrar-se, a febre dos cactos, lenta e interna, a baleia sonha com leite condensado, as estrelas caem para dentro da boca, e isso Marília, isso é definir poesia.
Criei dez heterónimos de reflexos rápidos, gostam de jogar badmington, fomos beber gin tónico, aos dez paguei as bebidas, depois cada um fez um poema sobre a perenidade, dez poemas sobre abelhas que dei a ler ao doutor, o doutor injectou-me futuro no peito, futuro líquido a entrar nas artérias do coração, o tempo medido a expandir-se no pulso enquanto as estrelas suicidas de Tule se rebentavam no seu próprio eixo, Rimbaud entrou na sala do esquecimento, a abelha enche-se de pólen com ou sem simbolismo – Maiakowsky bebe a noite estrelada. Sò Bolaño escreveu no ar, com um jacto, também isso foi representação da perenidade Marília, como o nosso abraço. Não estamos aqui por causa da gravidade, mas porque amamos o chão. Aqui todos os textos se unem num ponto único, estrela em espasmo contínuo. Qualquer movimento de vanguarda leva pólen nas patas, entra nas fábricas com as suas meias de lã grossa. A vontade é em tudo nova de te possuir, de engrossar a estrela, de em zeros e uns esquecer tudo para reforçar a memória de pontas mais fortes. Dez poemas que dei a ler ao doutor. Definir poesia é dar as mãos.
Perguntei aos meus dez heterónimos o que era o amor, e dei-lhes dez páginas em branco, todos eles saíram da sala, fiquei sozinho Marília, fui jogar bingo e beber, beber para esquecer. Depois em casa reuni todas as definições de amor que encontrei, perdidas em cartas, em poemas, em dicionários, em enciclopédias, todas as que me foram dando ao longo da vida e registei na memória. Não há amor há vida sem desespero de viver, dizia Camus. Também esta guardei e adormeci. No dia seguinte fui jogar voleibol com eles. Os cinco heterónimos de um lado, os cinco do outro. Eu era o árbitro que lhes definia a personalidade. A bola era de fogo. Uma vez bateu-me na cara. O pavilhão era revestido de espelhos. Não há elementos externos se tudo for uma e a mesma coisa. E tudo é uma e a mesma coisa Marília, em novelo cdontínuo, em direcção ao início de tudo. Apressar o início, a primeira dança, o primeiro canto, é essa a direcção da poesia.
Os meus dez heterónimos de viso assustado escreveram nas suas dez páginas em branco: fá-lo com os mortos
Definir poesia é dar as mãos, deixar o ar crescer em espiral, é como atravessar a ria, regar um girassol, toda a poesia simbolista não chega para acender um pirilampo e no entanto ele acende-se no seu cio fluorescente, Link Link Link – Três pastorinhos, escorre-lhes azeite negro pelos beiços, depois da alucinação mais perfeita num boulevard de Paris, leio-os, lês-os, lemos-os, o pirilampo é também representação e recheia-se de noite, de pontes, de pontas seguras que crescem e entram nos prédios – Se tiver saudades de alguma coisa vêm a aranha e come-o. Há métodos seguros de armazenar a memória, nos casulos negros marinhos. A estrela cresce de memória e abraços contra o fim do suporte e do símbolo. O último mito estará escrito na parede, debaixo das árvores e todos trarão antenas nas mãos e bocas cheias de cerejas. O Joaquim deu-me um livro sobre a perenidade. O livro foi escrito pela humanidade inteira. Não era um livro, era uma maçã, eu trinquei a maçã. Vimos a montra, entramos na montra, os artigos eram antigos e desadequados – definir é como estar à sombra, só a luz define, só ela revela e mostra as coisas como aparição, não se mostrar é revelar os outros – a abelha leva o pólen nas patas, a abelha leva o pólen nas patas – Definir é mostrar por dentro, qualquer manifestação é um não mostrar-se, a febre dos cactos, lenta e interna, a baleia sonha com leite condensado, as estrelas caem para dentro da boca, e isso Marília, isso é definir poesia.
Criei dez heterónimos de reflexos rápidos, gostam de jogar badmington, fomos beber gin tónico, aos dez paguei as bebidas, depois cada um fez um poema sobre a perenidade, dez poemas sobre abelhas que dei a ler ao doutor, o doutor injectou-me futuro no peito, futuro líquido a entrar nas artérias do coração, o tempo medido a expandir-se no pulso enquanto as estrelas suicidas de Tule se rebentavam no seu próprio eixo, Rimbaud entrou na sala do esquecimento, a abelha enche-se de pólen com ou sem simbolismo – Maiakowsky bebe a noite estrelada. Sò Bolaño escreveu no ar, com um jacto, também isso foi representação da perenidade Marília, como o nosso abraço. Não estamos aqui por causa da gravidade, mas porque amamos o chão. Aqui todos os textos se unem num ponto único, estrela em espasmo contínuo. Qualquer movimento de vanguarda leva pólen nas patas, entra nas fábricas com as suas meias de lã grossa. A vontade é em tudo nova de te possuir, de engrossar a estrela, de em zeros e uns esquecer tudo para reforçar a memória de pontas mais fortes. Dez poemas que dei a ler ao doutor. Definir poesia é dar as mãos.
Perguntei aos meus dez heterónimos o que era o amor, e dei-lhes dez páginas em branco, todos eles saíram da sala, fiquei sozinho Marília, fui jogar bingo e beber, beber para esquecer. Depois em casa reuni todas as definições de amor que encontrei, perdidas em cartas, em poemas, em dicionários, em enciclopédias, todas as que me foram dando ao longo da vida e registei na memória. Não há amor há vida sem desespero de viver, dizia Camus. Também esta guardei e adormeci. No dia seguinte fui jogar voleibol com eles. Os cinco heterónimos de um lado, os cinco do outro. Eu era o árbitro que lhes definia a personalidade. A bola era de fogo. Uma vez bateu-me na cara. O pavilhão era revestido de espelhos. Não há elementos externos se tudo for uma e a mesma coisa. E tudo é uma e a mesma coisa Marília, em novelo cdontínuo, em direcção ao início de tudo. Apressar o início, a primeira dança, o primeiro canto, é essa a direcção da poesia.
Os meus dez heterónimos de viso assustado escreveram nas suas dez páginas em branco: fá-lo com os mortos
Meta-gelo
………………………………………………………………………………………
E porque razão nunca cometeu pessoalmente um crime?
É provável que não o tenha feito porque escrevi os meus livros.
Jean Genet – O sorriso do anjo
I.
Enquanto patinava, escrevia no gelo um verso de Petrarca. À noite a máquina passava e limpava todas as linhas. Já de tarde as linhas que os outros patinadores deixavam no ringue sobrepunham-se à rima. Todos os dias deixava um verso novo. Pasolini traduzia-os para a linguagem dos rios: Nada é criado de novo, só se apagam umas linhas criando outras por cima; em todo o diálogo que é o posto da morte, em toda a história que derrete para dentro da boca.
II.
Algumas tardes vi São Bento de Núrcia a encostar-se nas paredes do ringue; ficava a observar-me, apontava num pergaminho que trazia o verso novo do dia e ia-se embora. À noite a máquina apagava todos os riscos e o gelo ficava liso. Sonhava às vezes que o verso ficava fluorescente no gelo e reflectia-se no tecto espelhado do ringue. Era sempre nova a vontade e a pressa de dizer tudo. Os meus patins eram de uma marca boa e suíça. Isso dava confiança. Mas as linhas no gelo criavam entropia ao verso; um atrito necessário como toda e qualquer civilização deve ter: Como em toda a história de humanidade, que não vale mais do que uma menina comer o seu corneto de morango. Na boca, o creme a derreter condensa todas as guerras, as disputas imperiais, os sonhos eróticos dos papas, o casamento dos reis católicos, o genocídio arménio, o do Darfur: a menina têm-nos na boca, a derreter na sua língua quente: Pasolini traduz a história da humanidade para a linguagem dos rios – eles não pensam, e não pensar é subir – transformar-se em nuvem. São Bento apontava os versos de um poeta do futuro e voltava para o seu convento de Montecassino. Por baixo do gelo havia um infrassól que guiava toda a literatura, toda ela é acidental e corre a toda a pressa engrossando as suas pontas, repetitiva e obsessiva. No século três passou-se dos rolos de papiro para o pergaminho. Isso tornava mais fácil a pesquisa por temas e autores. Não era preciso desenrolar o papiro, bastava virar a página. Muitos livros foram perdidos porque não foram passados de papiro para pergaminho e o papiro era um suporte condenável pela sua premiabilidade ao tempo, extremamente frágil e erosivo. Decidi-me pelo gelo como suporte, o mais virtual. Em fluorescente métrica nova escrevo uma rima de Petrarca no gelo. Os franco-atiradores passam por cima. Estamos em 1945 em Roma. Qualquer gesto humano me excita violentamente, amo tudo quanto fluí. Adoro um infrassól que permite todas as possibilidades. Ouço os bombardeamentos lá fora e agora estou sozinha no ringue. Bastava virar a página, mas tenho creme na boca, toda a história – Enquanto ordenarem a história por blocos não terei calma, ela é fluida como o rio que Pasolini traduz – Pasolini traduz também as montanhas e os lagos, e os pirilampos acenderem-se é só um fenómeno como a fuga para o egípcio de um povo perseguido. Preciso de escrever assim como preciso de nadar, porque o corpo assim mo exige.
III.
As linhas de tempo também não existem, disseste-me em doce estilo novo, abraçámo-nos, falamos de linhas a tarde toda – Depois voltei para o ringue. São Bento apareceu, dessa vez não foi um verso de Petrarca que escrevi, mas um de Mário Santiago Papasquiero, em forma de manifesto: Os manifestos aquecem e levam pólen nas patas. Deixam-no cair à sua passagem e fertilizam as pessoas. Esqueci-me dos bombardeamentos, as sirenes tocavam. Mário Santiago Papasquiero ainda não tinha nascido, era uma estrela bebé recheada de memórias futuras: Estava-mos em 4 de Junho de 1945, os aliados entravam na cidade. Escrevi no gelo um poema seu:
He introducido mi vida
en la vulva radiante de la estupefacción
/ Mi droga es respirar este aire caliente /
Traducir a la luna en mi piel
: hermanar mis heridas con su savia creciente :
E porque razão nunca cometeu pessoalmente um crime?
É provável que não o tenha feito porque escrevi os meus livros.
Jean Genet – O sorriso do anjo
I.
Enquanto patinava, escrevia no gelo um verso de Petrarca. À noite a máquina passava e limpava todas as linhas. Já de tarde as linhas que os outros patinadores deixavam no ringue sobrepunham-se à rima. Todos os dias deixava um verso novo. Pasolini traduzia-os para a linguagem dos rios: Nada é criado de novo, só se apagam umas linhas criando outras por cima; em todo o diálogo que é o posto da morte, em toda a história que derrete para dentro da boca.
II.
Algumas tardes vi São Bento de Núrcia a encostar-se nas paredes do ringue; ficava a observar-me, apontava num pergaminho que trazia o verso novo do dia e ia-se embora. À noite a máquina apagava todos os riscos e o gelo ficava liso. Sonhava às vezes que o verso ficava fluorescente no gelo e reflectia-se no tecto espelhado do ringue. Era sempre nova a vontade e a pressa de dizer tudo. Os meus patins eram de uma marca boa e suíça. Isso dava confiança. Mas as linhas no gelo criavam entropia ao verso; um atrito necessário como toda e qualquer civilização deve ter: Como em toda a história de humanidade, que não vale mais do que uma menina comer o seu corneto de morango. Na boca, o creme a derreter condensa todas as guerras, as disputas imperiais, os sonhos eróticos dos papas, o casamento dos reis católicos, o genocídio arménio, o do Darfur: a menina têm-nos na boca, a derreter na sua língua quente: Pasolini traduz a história da humanidade para a linguagem dos rios – eles não pensam, e não pensar é subir – transformar-se em nuvem. São Bento apontava os versos de um poeta do futuro e voltava para o seu convento de Montecassino. Por baixo do gelo havia um infrassól que guiava toda a literatura, toda ela é acidental e corre a toda a pressa engrossando as suas pontas, repetitiva e obsessiva. No século três passou-se dos rolos de papiro para o pergaminho. Isso tornava mais fácil a pesquisa por temas e autores. Não era preciso desenrolar o papiro, bastava virar a página. Muitos livros foram perdidos porque não foram passados de papiro para pergaminho e o papiro era um suporte condenável pela sua premiabilidade ao tempo, extremamente frágil e erosivo. Decidi-me pelo gelo como suporte, o mais virtual. Em fluorescente métrica nova escrevo uma rima de Petrarca no gelo. Os franco-atiradores passam por cima. Estamos em 1945 em Roma. Qualquer gesto humano me excita violentamente, amo tudo quanto fluí. Adoro um infrassól que permite todas as possibilidades. Ouço os bombardeamentos lá fora e agora estou sozinha no ringue. Bastava virar a página, mas tenho creme na boca, toda a história – Enquanto ordenarem a história por blocos não terei calma, ela é fluida como o rio que Pasolini traduz – Pasolini traduz também as montanhas e os lagos, e os pirilampos acenderem-se é só um fenómeno como a fuga para o egípcio de um povo perseguido. Preciso de escrever assim como preciso de nadar, porque o corpo assim mo exige.
III.
As linhas de tempo também não existem, disseste-me em doce estilo novo, abraçámo-nos, falamos de linhas a tarde toda – Depois voltei para o ringue. São Bento apareceu, dessa vez não foi um verso de Petrarca que escrevi, mas um de Mário Santiago Papasquiero, em forma de manifesto: Os manifestos aquecem e levam pólen nas patas. Deixam-no cair à sua passagem e fertilizam as pessoas. Esqueci-me dos bombardeamentos, as sirenes tocavam. Mário Santiago Papasquiero ainda não tinha nascido, era uma estrela bebé recheada de memórias futuras: Estava-mos em 4 de Junho de 1945, os aliados entravam na cidade. Escrevi no gelo um poema seu:
He introducido mi vida
en la vulva radiante de la estupefacción
/ Mi droga es respirar este aire caliente /
Traducir a la luna en mi piel
: hermanar mis heridas con su savia creciente :
domingo, 23 de janeiro de 2011
Alegoria de Sisifo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Estava sentado no cimo do monte de entulho e pedras, e atirou uma das maiores lá para baixo, ouviu-a e viu-a rebolar, esse som repetia-se desde o tempo da condenação. Uma marca de leite condensado pode criar um mito e no mito e nos dedos criarem-se cortes por um mau processo de enlatamento, as máquinas andam depressa, os mitos andam depressa de mais e afogam-nos, pensava nisto ao mesmo tempo que São Bento, o patrono da velha Europa, a racionar o pão, o vinho e o queijo para cada monge, a racionar a hora de deitar, de pensar, de meditar, de orar, de ouvir os sinos, de dobrarem literalmente os sinos, o tempo de banho, a água que se gasta em cada banho, não pode ser quente porque isso aliena o monge. Tudo pensado para para cada monge europeu, seguidor da regra como nós: Sisifo com os seus calções curtos e uma camisola dos ultra Ribeira, a soar há tantos séculos em cima do entulho. Desde que em Maio de 2020 todo o bairro dos Guindais foi demolido para serem criados miradouros, restaurantes, bares e jardins. Sisifo estava no cimo do entulho que era o antigo bairro, mas o tribunal declarou que não fosse criado o espaço cultural dos guindais enquanto Sisifo não tivesse cumprido a sua pena eterna, aos eternos filhos de Deus, o Parlamento Europeu e alguns estados americanos atribuíam a pena eterna com trabalho, algum trabalho que o juiz lia num livro de mitos, a justiça dava as mãos à mitologia, no mesmo sítio onde antes era o Palácio das sereias e se colocava no alto do porto de Leixões grandes bandeiras negras, alertando que um semi-deus estava na cidade e que as pessoas não podiam acorrer a ela: o mesmo era feito nos aeroportos
Sisifo fumou um cigarro e desceu toda a escadaria, a rocha tinha batido na ponte, Sisifo subia com elas às costas, assim o condenaram os deuses, subir com rochas até ao cimo, depois elas tombarem num movimento perpétuo e num ciclo eterno Sisifo subir com as pedras outra vez até ao cimo. Do seu cabelo e cara pingava suor. Estava muito sol. Passaram uns turustas japoneses que fotografaram o semi-deus a subir com a rocha às costas; captarem o9s eczemas nas costas, os músculos sobre tanta tensão e arranhados.
Os turistas passaram, e foi aqui que o escritor que escrevia este conto, saiu do quarto e me disse para eu guiar o texto da forma que me apetecesse, liguei a aparelhagem e pensei nesta função de duplo-narrador, caberia s mim interromper esta narrativa, esta revitalização de um mito grego, acabá-la assim sem nada, ou criar nós infinitos dentro dela e fazer também desta novela, um nó de acção, mas um nó de acção suicida, ir lá acima à pedreira e entregar o nó de enforcado para que Sisifo se mate.
Pensava nisto quando vi Dante aproximar-se ao longe na marginal do Douro, com um passo calmo e seguro, um gesto seguro e firme, acima de tudo seguro. Não trazia nada na mão esquerda nem nada na mão direita. Caminhou em direcção ao entulho de pedras e subiu, com a sua boina verde na cabeça. Tive medo que minha linha de redacçãoção – o nó – que pensei enquanto narrador duplo tivesse perdido todo o carácter criativo com o aparecimento de Dante que parava a meio do entulho para observar o Douro. Decidi narrar apenas o que via, e assim fica aqui o que vi: Dante aproximou-se de Sifiso ajudou-o a tirar uma das pedras que ele se preparava para por no chão.
Dante Disse: Meu filho, vamo-nos sentar em cima dessa pedra, não existem castigos tomados pelos deuses, porque não há deuses, tão pouco tu és um deus. Larga o teu trabalho e senta-te aqui comigo, vês li aquelas paredes que se dobram, dobram-se só por efeitos físicos e nem deus nem outra figura pode condenar ou dobrar, porque não existem. Talvez a estrela do norte nos indique, mas também ela muda de rota, tudo é movimento e transformação última e primeira. Não transportes mais pedras nem portas, pois esse trabalho é inútil, limita-te a receber o fundo de desemprego e escreve ensaios de critica literária que um dia hão de te ajudar a ti e à tua família. Acaba o teu chá verde com limão e come este eclair que te trouxe. Não existem mitos nem alegorias e nisto devemos estar de acordo, entra comigo neste café e continuamos a nossa conversa.
Não mais vi Dante nem Sisifo, apenas soube meses depois de um ensaio seu que apareceu no jornal de letras, com que conhecimentos Sisifo o publicou lá não sei, aqui fica ele:
Elementos de Modernidade líquida em "Ecrã" de Rober Diaz
O elemento virtual está presente em todo este texto e funde-se com o sensorial. O conceito de modernidade líquida, onde se diluem estilos, formas e conteúdos, está bem vivo e presente neste texto através duma dicotomia entre matéria e virtualidade, acentuada por uma linguagem forte e ausente de qualquer simbolismo. Em Rober Diaz o símbolo é o próprio objecto. Ele não deixa de aparecer, mas assume aqui elementos de hiper-realidade, de uma simbologia ao contrário em que as imagens valem pelo que são, (retirando assim qualquer força ao abstraccionismo e à interpretação).
São vários os elementos inovadores presentes em “Ecrã”. A força da imagem assume aqui proporções imensas em que o sensorial se funde ao virtual, como uma outra forma de sentir, uma forma estranha de sentir: “De ti quisiera música lijera / tocarte la garganta profunda / con mi lengua de pixeles”
O elemento luz / cor / sabor / textura / fundem-se obtendo-se uma unidade sensitiva discrepante em que os opostos são já a mesma coisa: la luz VS. la luz mia e luz CONTRA luz
A nível formal o texto é um campo de grande experimentação em que a pausa é suave e conseguida não só através da pontuação, mas também do uso da maiúscula realçando a força das imagens. A criação de palavras está presente, como o caso de “ FALSIFICACASENSACIÓN” ou o uso do travessão que reformula a palavra ódio, com a repetição / recriação do conceito que aqui é levado ao limite.
A imagem conseguida através da força do sublime continua em versos seguintes:
“Estupidez absorbente, /hambre de hoyo negro / trágame en una calda / suave y/ par-si-mo-nio-sa-men-te”. O contraste líquido e absorvente procura sempre a fusão entre vários elementos. O tema é social – A questão da arte e dos seus estilos, a catalogação: a modernidade é líquida, é instante e é mudança, não é preciso muito para a atingir:
abre los ojos/ es la modernidad
cierra los ojos/ es la pos-modernidad
háblale/ que ahí está la entidad metafísica
cállate/ que ahí está la plasticidad laica
Mais do que poema histórico, o poema é social e doce. “A impressão alia-se à sensação numa racional e inteligente linguagem de contras entre a grande velocidade e a paralisia, ou o movimento de ecrã lento, num jogo de escalas temporal mas também físico.
“Soy el ecrã SUPERSLOW”
“De ti quisiera danza & confusión
para activar los censores contra incendios,
delatarme como un televisor de bulbos
en esta alter-modernidad de fast- track”
O sujeito poético é aqui a mudança, não se acredita que seja um homem, embora só possa ser um homem (Alguém que se perde em colapsos nervosos no meio de um filme pornográfico) A imagem de alguém inserido na teia virtual (mundo da imaginação, do vazio, do que não há) é aqui potencializada.
É potenciada a forma do mundo virtual (o das trevas: o não-lugar) de uma era desconhecida em que a modernidade se assume flutuante e ambígua. Este texto não está assim arredado de elementos meta-literários.
O homem na sua impotência face ao ecrã, numa impotência radioactiva, impotência, impotência. O ecrã como lugar de recepção/ recolha passiva de representações – mas também lugar de criação onde o sujeito poético se perde, questionando as concepções de modernidade como um todo.
Ecrã
De ti quisiera música lijera
tocarte la garganta profunda
con mi lengua de pixeles
sentir las sustancias móviles
como la rabia
antes que su olor se pierda
entre tus gritos,
saber cual es el sabor
dulce o amargo
de tu visión sensacionalista
tú ojo
la luz VS. la luz mía
esplendor simultáneo
luz CONTRA luz
tú deslumbrante
comienzo, TÙ
hiel coagulada
FALSIFICACASENSACIÓN
que aparece
y se esfuma en una interferencia
de placeres
en una antena oxidada
mi yo irradiado
YO,
abarcado por tu señal:
odio, o-dio, o-di-o
te,
odio-te, o-dio- te, o-di-o-te,
¿ porqué nunca para tu queja?
Estupidez absorbente,
hambre de hoyo negro
trágame en una calda
suave y
par-si-mo-nio-sa-men-te
Hazme la noche,
en una operación binaria:
abre los ojos/ es la modernidad
cierra los ojos/ es la pos-modernidad
háblale/ que ahí está la entidad metafísica
cállate/ que ahí está la plasticidad laica
hazme sentir
el carbono 14
que vive de historias
mal contadas
De ti quisiera danza & confusión
para activar los censores contra incendios,
delatarme como un televisor de bulbos
en esta alter-modernidad de fast- track
Soy el ecrã SUPER SLOW
Acércate a la pantalla
ve
los rastros más insignificantes
de mi catástrofe
multimedia
en horario estelar,
los más pequeños detalles
de mi colapso
cibernético
en un canal pornográfico,
las huellas más imperceptibles
de mi crisis
nerval…
Rober Diaz
Sísifo
Estava sentado no cimo do monte de entulho e pedras, e atirou uma das maiores lá para baixo, ouviu-a e viu-a rebolar, esse som repetia-se desde o tempo da condenação. Uma marca de leite condensado pode criar um mito e no mito e nos dedos criarem-se cortes por um mau processo de enlatamento, as máquinas andam depressa, os mitos andam depressa de mais e afogam-nos, pensava nisto ao mesmo tempo que São Bento, o patrono da velha Europa, a racionar o pão, o vinho e o queijo para cada monge, a racionar a hora de deitar, de pensar, de meditar, de orar, de ouvir os sinos, de dobrarem literalmente os sinos, o tempo de banho, a água que se gasta em cada banho, não pode ser quente porque isso aliena o monge. Tudo pensado para para cada monge europeu, seguidor da regra como nós: Sisifo com os seus calções curtos e uma camisola dos ultra Ribeira, a soar há tantos séculos em cima do entulho. Desde que em Maio de 2020 todo o bairro dos Guindais foi demolido para serem criados miradouros, restaurantes, bares e jardins. Sisifo estava no cimo do entulho que era o antigo bairro, mas o tribunal declarou que não fosse criado o espaço cultural dos guindais enquanto Sisifo não tivesse cumprido a sua pena eterna, aos eternos filhos de Deus, o Parlamento Europeu e alguns estados americanos atribuíam a pena eterna com trabalho, algum trabalho que o juiz lia num livro de mitos, a justiça dava as mãos à mitologia, no mesmo sítio onde antes era o Palácio das sereias e se colocava no alto do porto de Leixões grandes bandeiras negras, alertando que um semi-deus estava na cidade e que as pessoas não podiam acorrer a ela: o mesmo era feito nos aeroportos
Sisifo fumou um cigarro e desceu toda a escadaria, a rocha tinha batido na ponte, Sisifo subia com elas às costas, assim o condenaram os deuses, subir com rochas até ao cimo, depois elas tombarem num movimento perpétuo e num ciclo eterno Sisifo subir com as pedras outra vez até ao cimo. Do seu cabelo e cara pingava suor. Estava muito sol. Passaram uns turustas japoneses que fotografaram o semi-deus a subir com a rocha às costas; captarem o9s eczemas nas costas, os músculos sobre tanta tensão e arranhados.
Os turistas passaram, e foi aqui que o escritor que escrevia este conto, saiu do quarto e me disse para eu guiar o texto da forma que me apetecesse, liguei a aparelhagem e pensei nesta função de duplo-narrador, caberia s mim interromper esta narrativa, esta revitalização de um mito grego, acabá-la assim sem nada, ou criar nós infinitos dentro dela e fazer também desta novela, um nó de acção, mas um nó de acção suicida, ir lá acima à pedreira e entregar o nó de enforcado para que Sisifo se mate.
Pensava nisto quando vi Dante aproximar-se ao longe na marginal do Douro, com um passo calmo e seguro, um gesto seguro e firme, acima de tudo seguro. Não trazia nada na mão esquerda nem nada na mão direita. Caminhou em direcção ao entulho de pedras e subiu, com a sua boina verde na cabeça. Tive medo que minha linha de redacçãoção – o nó – que pensei enquanto narrador duplo tivesse perdido todo o carácter criativo com o aparecimento de Dante que parava a meio do entulho para observar o Douro. Decidi narrar apenas o que via, e assim fica aqui o que vi: Dante aproximou-se de Sifiso ajudou-o a tirar uma das pedras que ele se preparava para por no chão.
Dante Disse: Meu filho, vamo-nos sentar em cima dessa pedra, não existem castigos tomados pelos deuses, porque não há deuses, tão pouco tu és um deus. Larga o teu trabalho e senta-te aqui comigo, vês li aquelas paredes que se dobram, dobram-se só por efeitos físicos e nem deus nem outra figura pode condenar ou dobrar, porque não existem. Talvez a estrela do norte nos indique, mas também ela muda de rota, tudo é movimento e transformação última e primeira. Não transportes mais pedras nem portas, pois esse trabalho é inútil, limita-te a receber o fundo de desemprego e escreve ensaios de critica literária que um dia hão de te ajudar a ti e à tua família. Acaba o teu chá verde com limão e come este eclair que te trouxe. Não existem mitos nem alegorias e nisto devemos estar de acordo, entra comigo neste café e continuamos a nossa conversa.
Não mais vi Dante nem Sisifo, apenas soube meses depois de um ensaio seu que apareceu no jornal de letras, com que conhecimentos Sisifo o publicou lá não sei, aqui fica ele:
Elementos de Modernidade líquida em "Ecrã" de Rober Diaz
O elemento virtual está presente em todo este texto e funde-se com o sensorial. O conceito de modernidade líquida, onde se diluem estilos, formas e conteúdos, está bem vivo e presente neste texto através duma dicotomia entre matéria e virtualidade, acentuada por uma linguagem forte e ausente de qualquer simbolismo. Em Rober Diaz o símbolo é o próprio objecto. Ele não deixa de aparecer, mas assume aqui elementos de hiper-realidade, de uma simbologia ao contrário em que as imagens valem pelo que são, (retirando assim qualquer força ao abstraccionismo e à interpretação).
São vários os elementos inovadores presentes em “Ecrã”. A força da imagem assume aqui proporções imensas em que o sensorial se funde ao virtual, como uma outra forma de sentir, uma forma estranha de sentir: “De ti quisiera música lijera / tocarte la garganta profunda / con mi lengua de pixeles”
O elemento luz / cor / sabor / textura / fundem-se obtendo-se uma unidade sensitiva discrepante em que os opostos são já a mesma coisa: la luz VS. la luz mia e luz CONTRA luz
A nível formal o texto é um campo de grande experimentação em que a pausa é suave e conseguida não só através da pontuação, mas também do uso da maiúscula realçando a força das imagens. A criação de palavras está presente, como o caso de “ FALSIFICACASENSACIÓN” ou o uso do travessão que reformula a palavra ódio, com a repetição / recriação do conceito que aqui é levado ao limite.
A imagem conseguida através da força do sublime continua em versos seguintes:
“Estupidez absorbente, /hambre de hoyo negro / trágame en una calda / suave y/ par-si-mo-nio-sa-men-te”. O contraste líquido e absorvente procura sempre a fusão entre vários elementos. O tema é social – A questão da arte e dos seus estilos, a catalogação: a modernidade é líquida, é instante e é mudança, não é preciso muito para a atingir:
abre los ojos/ es la modernidad
cierra los ojos/ es la pos-modernidad
háblale/ que ahí está la entidad metafísica
cállate/ que ahí está la plasticidad laica
Mais do que poema histórico, o poema é social e doce. “A impressão alia-se à sensação numa racional e inteligente linguagem de contras entre a grande velocidade e a paralisia, ou o movimento de ecrã lento, num jogo de escalas temporal mas também físico.
“Soy el ecrã SUPERSLOW”
“De ti quisiera danza & confusión
para activar los censores contra incendios,
delatarme como un televisor de bulbos
en esta alter-modernidad de fast- track”
O sujeito poético é aqui a mudança, não se acredita que seja um homem, embora só possa ser um homem (Alguém que se perde em colapsos nervosos no meio de um filme pornográfico) A imagem de alguém inserido na teia virtual (mundo da imaginação, do vazio, do que não há) é aqui potencializada.
É potenciada a forma do mundo virtual (o das trevas: o não-lugar) de uma era desconhecida em que a modernidade se assume flutuante e ambígua. Este texto não está assim arredado de elementos meta-literários.
O homem na sua impotência face ao ecrã, numa impotência radioactiva, impotência, impotência. O ecrã como lugar de recepção/ recolha passiva de representações – mas também lugar de criação onde o sujeito poético se perde, questionando as concepções de modernidade como um todo.
Ecrã
De ti quisiera música lijera
tocarte la garganta profunda
con mi lengua de pixeles
sentir las sustancias móviles
como la rabia
antes que su olor se pierda
entre tus gritos,
saber cual es el sabor
dulce o amargo
de tu visión sensacionalista
tú ojo
la luz VS. la luz mía
esplendor simultáneo
luz CONTRA luz
tú deslumbrante
comienzo, TÙ
hiel coagulada
FALSIFICACASENSACIÓN
que aparece
y se esfuma en una interferencia
de placeres
en una antena oxidada
mi yo irradiado
YO,
abarcado por tu señal:
odio, o-dio, o-di-o
te,
odio-te, o-dio- te, o-di-o-te,
¿ porqué nunca para tu queja?
Estupidez absorbente,
hambre de hoyo negro
trágame en una calda
suave y
par-si-mo-nio-sa-men-te
Hazme la noche,
en una operación binaria:
abre los ojos/ es la modernidad
cierra los ojos/ es la pos-modernidad
háblale/ que ahí está la entidad metafísica
cállate/ que ahí está la plasticidad laica
hazme sentir
el carbono 14
que vive de historias
mal contadas
De ti quisiera danza & confusión
para activar los censores contra incendios,
delatarme como un televisor de bulbos
en esta alter-modernidad de fast- track
Soy el ecrã SUPER SLOW
Acércate a la pantalla
ve
los rastros más insignificantes
de mi catástrofe
multimedia
en horario estelar,
los más pequeños detalles
de mi colapso
cibernético
en un canal pornográfico,
las huellas más imperceptibles
de mi crisis
nerval…
Rober Diaz
Sísifo
Subscrever:
Mensagens (Atom)