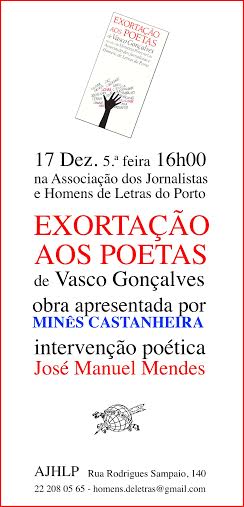quarta-feira, 25 de maio de 2011
Zahut II
O futuro joga badmington consigo mesmo, na forma de dois: derrete pelos olhos, provoca uma visão fragmentada, distorce, soluciona, apresenta-se como alucinação na parte de trás da nuca, nada como uma estrela de várias pontas por ti dentro, como um comboio percorre-te a nuca, os braços: uma infra-língua lambe a civilização assustada. Folheamos de forma apressada o genocídio do Darfur; Na casa diante do mundo com os seus grandes espelhos. O futuro sobe pela coluna na alucinação dos cactos, é só um gato em queda contínua, vertical como a música. Zahut esconde o sono numa caixinha pequena, forrada por dentro de celofane azul. Depois vai brincar com as montanhas, muda-as de sítio, de vez em quando mete uma montanha na boca – Com os seus sinos de bronze a tocarem – A montanha branca, o lago, dentro da boca – O futuro a vestir os seus calções justos, só vigília de várias pontas acesas, porque o sono está numa caixinha. O futuro escreve. Zahut escreve, mete o medo num saco, fuma o medo e vai brincar com as montanhas, em mortalha de prata, vertical como a música. O último símbolo anda de patins no ringue: Zahut escreve porque tem medo e abraça-se a Jiacina. A entropia aumenta o sinal, fortalece-o de ligações mais fortes e seguras, a estrela nada por eles, dentro deles.
Zahut
Deram um livro a Zahut sobre metalinguagem. Zahut não percebeu o livro e atirou-o ao lixo, depois veio falar comigo e disse que não gostava de metalinguagem nem de linguagem em geral, pediu-me um conselho para acabar com a linguagem: Olhei-o, a sua cara parecia um triângulo assustado. Disse-me depois que queria fazer uma gelatina de linguagem, de toda a linguagem. Respondi-lhe de forma segura que isso seria impossível, porque não é possível fazer uma coisa física de uma ideia, ou de uma abstracção, disse-lhe que isso só seria possível na literatura, só a literatura une o mundo das ideias ao mundo físico. Zahut não concordou comigo e disse que ia organizar uma reunião para a qual iria convidar os melhores linguistas e estudiosos da fonética, assim como os principais fabricantes de produtos alimentares a nível mundial. A reunião foi marcada, Zahut disse que me iria mandar as actas para o mail. Nunca mais as recebi.
terça-feira, 17 de maio de 2011
Alegoria de Safo
I.
Faón tinha uma joaninha a subir-lhe o pulso, a pulsação era forte e segura, guiava-se pelas veias azuis: fazia muito calor na praia em frente ao mar Jónio. Vinte e cinco séculos depois os navios aliados chegavam à praia. Fazia muito calor, não é da natureza das joaninhas estarem nas praias, mas sim nos jardins. A escola de fêmeas tinha um jardim que dava para a praia; fazia muito calor. Safo segurou-lhe o antebraço, pôs-lhe a mão no peito. Faón não resistiu. Era sua aluna na escola de fêmeas. Por essa altura as lições eram sobre a possibilidade e a aparição. Discutia-se Heidegger vinte e cinco séculos antes de ele ter nascido, e ainda pouco tempo depois de surgir a virtualidade da escrita já Safo se perdia nos links da loucura. A joaninha levantou voo e foi pelo mar fora.
II.
Faón tinha pena de Safo, uma forma estranha de adoração, misturada com um pouco de vergonha. Safo era já velha. Estava completamente apaixonada por Faón. Escrevia à noite rolos inteiros de poemas, na métrica depois chamada sáfica, sobre o peito de Faón, o calor, a energia de Faón. Ouvia o pássaro de fogo de Stravinsky lá fora, vinte e cinco séculos antes da sua aparição. O pássaro de fogo a entrar pela janela, a atravessar-lhe o peito: Faón era a sua melhor aluna. Nesse tempo discutiam a possibilidade e as alunas escreviam sobre Heidegger. Faón resistia nos intervalos. Não sentia atracção por mulheres.
III.
Heidegger dizia que o manifestar-se é um não mostrar-se, ao mesmo tempo, na mesma linha de tempo, onde cabem todos eles, todos os fenómenos, Safo entrava nas águas quentes do mar Jónio com Faón, Faón dava-lhe a mão. Por pena, sentia apenas uma grande admiração, embora soubesse que já há muito a tinha ultrapassado no conhecimento de Heidegger e do futuro. O futuro líquido percorria-lhe o pulso e Safo lambia-lhe o pulso. Sentiam as algas nos pés, era de noite, a água estava muito quente.
IV.
Assim que Safo se lançou do promontório para o mar Jónio, as águas subiram mais um pouco: Mais tarde provocaria uma inundação em Veneza assim que a cidade fosse formada, porque o mar guarda um rápido registo, uma saga aflita, na memória dos moluscos do fundo, nos casulos marinhos. Franz Gillparzer escrevia em Viena cinco actos para uma peça sobre Safo. Estavamos no início do século XIX.
V.
Faón tinha-se apaixonado por um rapaz. Safo notava a sua desatenção nas aulas. Resistia-lhe agora, tornava-se mais distante. O mar subia em métrica sáfica, em links apressados que conduziam fios para dentro de Safo. Link, ouvia-se link, as joaninhas a levantarem voo com o calor no jardim da escola, suspenso por alicerces seguros. O rapaz calcava as uvas. Safo e Faón provavam o vinho tinto mais tarde, quente na praia. Deram o último beijo. Safo chorou a noite toda, deixou que o pássaro de fogo lhe picasse os olhos e dançou. Ligou a internet, viu o último texto de Faón, digitalizado do papiro, a narrativa falava sobre a perenidade de um beijo, sobre escalas de tempo apressadas, sobre casulos, sobre girassóis,tartarugas, labirintos e anagramas. A narrativa incluía poemas de métrica Sáfica. Safo correu para o bosque. Foi aconselhada por um dos que fazem esquecer. Aconselhou-a a lançar-se ao mar. Dirigiu-se ao promontório. Atirou-se.
Faón tinha uma joaninha a subir-lhe o pulso, a pulsação era forte e segura, guiava-se pelas veias azuis: fazia muito calor na praia em frente ao mar Jónio. Vinte e cinco séculos depois os navios aliados chegavam à praia. Fazia muito calor, não é da natureza das joaninhas estarem nas praias, mas sim nos jardins. A escola de fêmeas tinha um jardim que dava para a praia; fazia muito calor. Safo segurou-lhe o antebraço, pôs-lhe a mão no peito. Faón não resistiu. Era sua aluna na escola de fêmeas. Por essa altura as lições eram sobre a possibilidade e a aparição. Discutia-se Heidegger vinte e cinco séculos antes de ele ter nascido, e ainda pouco tempo depois de surgir a virtualidade da escrita já Safo se perdia nos links da loucura. A joaninha levantou voo e foi pelo mar fora.
II.
Faón tinha pena de Safo, uma forma estranha de adoração, misturada com um pouco de vergonha. Safo era já velha. Estava completamente apaixonada por Faón. Escrevia à noite rolos inteiros de poemas, na métrica depois chamada sáfica, sobre o peito de Faón, o calor, a energia de Faón. Ouvia o pássaro de fogo de Stravinsky lá fora, vinte e cinco séculos antes da sua aparição. O pássaro de fogo a entrar pela janela, a atravessar-lhe o peito: Faón era a sua melhor aluna. Nesse tempo discutiam a possibilidade e as alunas escreviam sobre Heidegger. Faón resistia nos intervalos. Não sentia atracção por mulheres.
III.
Heidegger dizia que o manifestar-se é um não mostrar-se, ao mesmo tempo, na mesma linha de tempo, onde cabem todos eles, todos os fenómenos, Safo entrava nas águas quentes do mar Jónio com Faón, Faón dava-lhe a mão. Por pena, sentia apenas uma grande admiração, embora soubesse que já há muito a tinha ultrapassado no conhecimento de Heidegger e do futuro. O futuro líquido percorria-lhe o pulso e Safo lambia-lhe o pulso. Sentiam as algas nos pés, era de noite, a água estava muito quente.
IV.
Assim que Safo se lançou do promontório para o mar Jónio, as águas subiram mais um pouco: Mais tarde provocaria uma inundação em Veneza assim que a cidade fosse formada, porque o mar guarda um rápido registo, uma saga aflita, na memória dos moluscos do fundo, nos casulos marinhos. Franz Gillparzer escrevia em Viena cinco actos para uma peça sobre Safo. Estavamos no início do século XIX.
V.
Faón tinha-se apaixonado por um rapaz. Safo notava a sua desatenção nas aulas. Resistia-lhe agora, tornava-se mais distante. O mar subia em métrica sáfica, em links apressados que conduziam fios para dentro de Safo. Link, ouvia-se link, as joaninhas a levantarem voo com o calor no jardim da escola, suspenso por alicerces seguros. O rapaz calcava as uvas. Safo e Faón provavam o vinho tinto mais tarde, quente na praia. Deram o último beijo. Safo chorou a noite toda, deixou que o pássaro de fogo lhe picasse os olhos e dançou. Ligou a internet, viu o último texto de Faón, digitalizado do papiro, a narrativa falava sobre a perenidade de um beijo, sobre escalas de tempo apressadas, sobre casulos, sobre girassóis,tartarugas, labirintos e anagramas. A narrativa incluía poemas de métrica Sáfica. Safo correu para o bosque. Foi aconselhada por um dos que fazem esquecer. Aconselhou-a a lançar-se ao mar. Dirigiu-se ao promontório. Atirou-se.
Carta a Marília II
O pensamento é uma questão de gravidade, empurra-nos para baixo, ao contrário dos sentidos que são em tudo verticais e fazem subir. Não que acredite verdadeiramente nisto Marília, não acredito verdadeiramente em nada. São várias as portas abertas, que nos dirigem a ligações sempre novas e seguras. O Amor é tudo o que faz subir, a sensação e a emoção geram filhos. O pensamento afoga os filhos. Qualquer movimento de vanguarda sabe-o e deve explorar os pólos como a potência vital do homem, anular os pólos e abrir a possibilidade. Habito-a, a dos teus olhos. O nosso século acabou com a legitimação – bebeu de mais e acordou sozinho. Todos os filósofos alemães tinham um dilema antes de ir dormir. Rezar para dentro, fazer um pacto com o futuro, com um fabricante de sinos de uma realidade paralela, atingir o meta-susto perfeito que faz evoluir. Só o amor faz evoluir. Não há caminho, ele abre-se à nossa frente em links imperfeitos. O pensamento abre janelas, mas também afoga. O que dá valor à viagem é o medo, a sua virtualidade, o medo é a mais virtual das portas e recheia-nos de sombras Marília, mas só ele é motor e faz avançar, a civilização gera-se de medo, o medo engrossa as pontas da estrela. A estrela entra na cidade, assusta mas aquece. Aquece-nos a baía trémula de luz, como os lábios húmidos, sempre por fechar porque nada se fecha. Trabalhei todo o dia a partir pedra. Fiz um poema de amor com a ajuda dos heterónimos que me acordaram. Partimos num barco a vapor, esperavas-me do outro lado. Um continente cheio de medo a que chamaram América. Estou preso ao mundo por todos os meus gestos, aos homens por todo o meu reconhecimento. Mas também pelos fios dourados da culpa; também ela guia orientador da civilização. Toda e qualquer civilização leva pólen nas patas e deixa-o cair, espalhar-se pelos campos, como os evangelizadores jesuítas a deixarem a semente fluorescente do cristianismo, nos campos, nas cidades a serem pintadas pelos expressionistas. A minha alegria não têm fim Marília, é a de todos os que partem, e pouco tempo falta para te ver. Sou uma pequena abelha, sou uma pequena abelha, e escrevo ensaios sobre a morte e a para-literatura, a que não a chega a ser. Deus – Mediterrâneo – Força, ergue-se: Construção Link Link Link, A escultura grega decai quando surge o sorriso e o olhar. Há girassóis na nossa casa diante do mar, e os cordeirinhos banham-se a teus pés na rebentação da lua – da casa diante do mundo. Por cima do girassol meteram cimentos – alicerces fortes de uma construção para uma casa de saúde. Nada se fecha. As portas abrem-se, as janelas abrem-se, as rosas brancas abrem-se como num adagietto. Esperamos o fim da narrativa, mas não é um fim é um início eterno aquilo para o qual caminhamos. Na casa diante do mar a ler as partículas elementares, a ler todos os homens, as suas expressões rápidas: Na casa diante do mundo, construída por Camus, a fumar na sua varanda: O sol de frente. Não foram duas, mas quatro Sicílias, aquelas que os remadores de troncos fortes viram quando vieram de Cápri. Quatro cidades de Palermo espalhavam-se pelo deserto, fugidas de sítio. Amar é perder a cara, a identificação. Tudo é um, caminha para o um. Não existe sim e não, os pólos tocaram-se em nó contínuo, desfizeram-se. O carregador tem a perna partida por causa de um acidente de trabalho. Toda a história universal é um acidente de trabalho. Está em recuperação contínua. Um abraço pré-hispânico há-de repetir-se na era nuclear, na verdade nunca acabou porque a arte é um rio, contínuo o seu leito Marília. A arte nunca está acabada, apenas é por vezes abandonada. Mas o abandono é uma forma perversa de criação, porque o tempo contínua a obra. O mesmo se pode dizer da civilização, que é o mesmo que a arte, mas com um pouco mais de pólen. Mandaram-me carregar blocos de pensamento de um lado para o outro. Só depois percebi que eram de pedra.
Carta a Marília
******
Definir poesia é dar as mãos, deixar o ar crescer em espiral, é como atravessar a ria, regar um girassol, toda a poesia simbolista não chega para acender um pirilampo e no entanto ele acende-se no seu cio fluorescente, Link Link Link – Três pastorinhos, escorre-lhes azeite negro pelos beiços, depois da alucinação mais perfeita num boulevard de Paris, leio-os, lês-os, lemos-os, o pirilampo é também representação e recheia-se de noite, de pontes, de pontas seguras que crescem e entram nos prédios – Se tiver saudades de alguma coisa vêm a aranha e come-o. Há métodos seguros de armazenar a memória, nos casulos negros marinhos. A estrela cresce de memória e abraços contra o fim do suporte e do símbolo. O último mito estará escrito na parede, debaixo das árvores e todos trarão antenas nas mãos e bocas cheias de cerejas. O Joaquim deu-me um livro sobre a perenidade. O livro foi escrito pela humanidade inteira. Não era um livro, era uma maçã, eu trinquei a maçã. Vimos a montra, entramos na montra, os artigos eram antigos e desadequados – definir é como estar à sombra, só a luz define, só ela revela e mostra as coisas como aparição, não se mostrar é revelar os outros – a abelha leva o pólen nas patas, a abelha leva o pólen nas patas – Definir é mostrar por dentro, qualquer manifestação é um não mostrar-se, a febre dos cactos, lenta e interna, a baleia sonha com leite condensado, as estrelas caem para dentro da boca, e isso Marília, isso é definir poesia.
Criei dez heterónimos de reflexos rápidos, gostam de jogar badmington, fomos beber gin tónico, aos dez paguei as bebidas, depois cada um fez um poema sobre a perenidade, dez poemas sobre abelhas que dei a ler ao doutor, o doutor injectou-me futuro no peito, futuro líquido a entrar nas artérias do coração, o tempo medido a expandir-se no pulso enquanto as estrelas suicidas de Tule se rebentavam no seu próprio eixo, Rimbaud entrou na sala do esquecimento, a abelha enche-se de pólen com ou sem simbolismo – Maiakowsky bebe a noite estrelada. Sò Bolaño escreveu no ar, com um jacto, também isso foi representação da perenidade Marília, como o nosso abraço. Não estamos aqui por causa da gravidade, mas porque amamos o chão. Aqui todos os textos se unem num ponto único, estrela em espasmo contínuo. Qualquer movimento de vanguarda leva pólen nas patas, entra nas fábricas com as suas meias de lã grossa. A vontade é em tudo nova de te possuir, de engrossar a estrela, de em zeros e uns esquecer tudo para reforçar a memória de pontas mais fortes. Dez poemas que dei a ler ao doutor. Definir poesia é dar as mãos.
Perguntei aos meus dez heterónimos o que era o amor, e dei-lhes dez páginas em branco, todos eles saíram da sala, fiquei sozinho Marília, fui jogar bingo e beber, beber para esquecer. Depois em casa reuni todas as definições de amor que encontrei, perdidas em cartas, em poemas, em dicionários, em enciclopédias, todas as que me foram dando ao longo da vida e registei na memória. Não há amor há vida sem desespero de viver, dizia Camus. Também esta guardei e adormeci. No dia seguinte fui jogar voleibol com eles. Os cinco heterónimos de um lado, os cinco do outro. Eu era o árbitro que lhes definia a personalidade. A bola era de fogo. Uma vez bateu-me na cara. O pavilhão era revestido de espelhos. Não há elementos externos se tudo for uma e a mesma coisa. E tudo é uma e a mesma coisa Marília, em novelo cdontínuo, em direcção ao início de tudo. Apressar o início, a primeira dança, o primeiro canto, é essa a direcção da poesia.
Os meus dez heterónimos de viso assustado escreveram nas suas dez páginas em branco: fá-lo com os mortos
Definir poesia é dar as mãos, deixar o ar crescer em espiral, é como atravessar a ria, regar um girassol, toda a poesia simbolista não chega para acender um pirilampo e no entanto ele acende-se no seu cio fluorescente, Link Link Link – Três pastorinhos, escorre-lhes azeite negro pelos beiços, depois da alucinação mais perfeita num boulevard de Paris, leio-os, lês-os, lemos-os, o pirilampo é também representação e recheia-se de noite, de pontes, de pontas seguras que crescem e entram nos prédios – Se tiver saudades de alguma coisa vêm a aranha e come-o. Há métodos seguros de armazenar a memória, nos casulos negros marinhos. A estrela cresce de memória e abraços contra o fim do suporte e do símbolo. O último mito estará escrito na parede, debaixo das árvores e todos trarão antenas nas mãos e bocas cheias de cerejas. O Joaquim deu-me um livro sobre a perenidade. O livro foi escrito pela humanidade inteira. Não era um livro, era uma maçã, eu trinquei a maçã. Vimos a montra, entramos na montra, os artigos eram antigos e desadequados – definir é como estar à sombra, só a luz define, só ela revela e mostra as coisas como aparição, não se mostrar é revelar os outros – a abelha leva o pólen nas patas, a abelha leva o pólen nas patas – Definir é mostrar por dentro, qualquer manifestação é um não mostrar-se, a febre dos cactos, lenta e interna, a baleia sonha com leite condensado, as estrelas caem para dentro da boca, e isso Marília, isso é definir poesia.
Criei dez heterónimos de reflexos rápidos, gostam de jogar badmington, fomos beber gin tónico, aos dez paguei as bebidas, depois cada um fez um poema sobre a perenidade, dez poemas sobre abelhas que dei a ler ao doutor, o doutor injectou-me futuro no peito, futuro líquido a entrar nas artérias do coração, o tempo medido a expandir-se no pulso enquanto as estrelas suicidas de Tule se rebentavam no seu próprio eixo, Rimbaud entrou na sala do esquecimento, a abelha enche-se de pólen com ou sem simbolismo – Maiakowsky bebe a noite estrelada. Sò Bolaño escreveu no ar, com um jacto, também isso foi representação da perenidade Marília, como o nosso abraço. Não estamos aqui por causa da gravidade, mas porque amamos o chão. Aqui todos os textos se unem num ponto único, estrela em espasmo contínuo. Qualquer movimento de vanguarda leva pólen nas patas, entra nas fábricas com as suas meias de lã grossa. A vontade é em tudo nova de te possuir, de engrossar a estrela, de em zeros e uns esquecer tudo para reforçar a memória de pontas mais fortes. Dez poemas que dei a ler ao doutor. Definir poesia é dar as mãos.
Perguntei aos meus dez heterónimos o que era o amor, e dei-lhes dez páginas em branco, todos eles saíram da sala, fiquei sozinho Marília, fui jogar bingo e beber, beber para esquecer. Depois em casa reuni todas as definições de amor que encontrei, perdidas em cartas, em poemas, em dicionários, em enciclopédias, todas as que me foram dando ao longo da vida e registei na memória. Não há amor há vida sem desespero de viver, dizia Camus. Também esta guardei e adormeci. No dia seguinte fui jogar voleibol com eles. Os cinco heterónimos de um lado, os cinco do outro. Eu era o árbitro que lhes definia a personalidade. A bola era de fogo. Uma vez bateu-me na cara. O pavilhão era revestido de espelhos. Não há elementos externos se tudo for uma e a mesma coisa. E tudo é uma e a mesma coisa Marília, em novelo cdontínuo, em direcção ao início de tudo. Apressar o início, a primeira dança, o primeiro canto, é essa a direcção da poesia.
Os meus dez heterónimos de viso assustado escreveram nas suas dez páginas em branco: fá-lo com os mortos
Meta-gelo
………………………………………………………………………………………
E porque razão nunca cometeu pessoalmente um crime?
É provável que não o tenha feito porque escrevi os meus livros.
Jean Genet – O sorriso do anjo
I.
Enquanto patinava, escrevia no gelo um verso de Petrarca. À noite a máquina passava e limpava todas as linhas. Já de tarde as linhas que os outros patinadores deixavam no ringue sobrepunham-se à rima. Todos os dias deixava um verso novo. Pasolini traduzia-os para a linguagem dos rios: Nada é criado de novo, só se apagam umas linhas criando outras por cima; em todo o diálogo que é o posto da morte, em toda a história que derrete para dentro da boca.
II.
Algumas tardes vi São Bento de Núrcia a encostar-se nas paredes do ringue; ficava a observar-me, apontava num pergaminho que trazia o verso novo do dia e ia-se embora. À noite a máquina apagava todos os riscos e o gelo ficava liso. Sonhava às vezes que o verso ficava fluorescente no gelo e reflectia-se no tecto espelhado do ringue. Era sempre nova a vontade e a pressa de dizer tudo. Os meus patins eram de uma marca boa e suíça. Isso dava confiança. Mas as linhas no gelo criavam entropia ao verso; um atrito necessário como toda e qualquer civilização deve ter: Como em toda a história de humanidade, que não vale mais do que uma menina comer o seu corneto de morango. Na boca, o creme a derreter condensa todas as guerras, as disputas imperiais, os sonhos eróticos dos papas, o casamento dos reis católicos, o genocídio arménio, o do Darfur: a menina têm-nos na boca, a derreter na sua língua quente: Pasolini traduz a história da humanidade para a linguagem dos rios – eles não pensam, e não pensar é subir – transformar-se em nuvem. São Bento apontava os versos de um poeta do futuro e voltava para o seu convento de Montecassino. Por baixo do gelo havia um infrassól que guiava toda a literatura, toda ela é acidental e corre a toda a pressa engrossando as suas pontas, repetitiva e obsessiva. No século três passou-se dos rolos de papiro para o pergaminho. Isso tornava mais fácil a pesquisa por temas e autores. Não era preciso desenrolar o papiro, bastava virar a página. Muitos livros foram perdidos porque não foram passados de papiro para pergaminho e o papiro era um suporte condenável pela sua premiabilidade ao tempo, extremamente frágil e erosivo. Decidi-me pelo gelo como suporte, o mais virtual. Em fluorescente métrica nova escrevo uma rima de Petrarca no gelo. Os franco-atiradores passam por cima. Estamos em 1945 em Roma. Qualquer gesto humano me excita violentamente, amo tudo quanto fluí. Adoro um infrassól que permite todas as possibilidades. Ouço os bombardeamentos lá fora e agora estou sozinha no ringue. Bastava virar a página, mas tenho creme na boca, toda a história – Enquanto ordenarem a história por blocos não terei calma, ela é fluida como o rio que Pasolini traduz – Pasolini traduz também as montanhas e os lagos, e os pirilampos acenderem-se é só um fenómeno como a fuga para o egípcio de um povo perseguido. Preciso de escrever assim como preciso de nadar, porque o corpo assim mo exige.
III.
As linhas de tempo também não existem, disseste-me em doce estilo novo, abraçámo-nos, falamos de linhas a tarde toda – Depois voltei para o ringue. São Bento apareceu, dessa vez não foi um verso de Petrarca que escrevi, mas um de Mário Santiago Papasquiero, em forma de manifesto: Os manifestos aquecem e levam pólen nas patas. Deixam-no cair à sua passagem e fertilizam as pessoas. Esqueci-me dos bombardeamentos, as sirenes tocavam. Mário Santiago Papasquiero ainda não tinha nascido, era uma estrela bebé recheada de memórias futuras: Estava-mos em 4 de Junho de 1945, os aliados entravam na cidade. Escrevi no gelo um poema seu:
He introducido mi vida
en la vulva radiante de la estupefacción
/ Mi droga es respirar este aire caliente /
Traducir a la luna en mi piel
: hermanar mis heridas con su savia creciente :
E porque razão nunca cometeu pessoalmente um crime?
É provável que não o tenha feito porque escrevi os meus livros.
Jean Genet – O sorriso do anjo
I.
Enquanto patinava, escrevia no gelo um verso de Petrarca. À noite a máquina passava e limpava todas as linhas. Já de tarde as linhas que os outros patinadores deixavam no ringue sobrepunham-se à rima. Todos os dias deixava um verso novo. Pasolini traduzia-os para a linguagem dos rios: Nada é criado de novo, só se apagam umas linhas criando outras por cima; em todo o diálogo que é o posto da morte, em toda a história que derrete para dentro da boca.
II.
Algumas tardes vi São Bento de Núrcia a encostar-se nas paredes do ringue; ficava a observar-me, apontava num pergaminho que trazia o verso novo do dia e ia-se embora. À noite a máquina apagava todos os riscos e o gelo ficava liso. Sonhava às vezes que o verso ficava fluorescente no gelo e reflectia-se no tecto espelhado do ringue. Era sempre nova a vontade e a pressa de dizer tudo. Os meus patins eram de uma marca boa e suíça. Isso dava confiança. Mas as linhas no gelo criavam entropia ao verso; um atrito necessário como toda e qualquer civilização deve ter: Como em toda a história de humanidade, que não vale mais do que uma menina comer o seu corneto de morango. Na boca, o creme a derreter condensa todas as guerras, as disputas imperiais, os sonhos eróticos dos papas, o casamento dos reis católicos, o genocídio arménio, o do Darfur: a menina têm-nos na boca, a derreter na sua língua quente: Pasolini traduz a história da humanidade para a linguagem dos rios – eles não pensam, e não pensar é subir – transformar-se em nuvem. São Bento apontava os versos de um poeta do futuro e voltava para o seu convento de Montecassino. Por baixo do gelo havia um infrassól que guiava toda a literatura, toda ela é acidental e corre a toda a pressa engrossando as suas pontas, repetitiva e obsessiva. No século três passou-se dos rolos de papiro para o pergaminho. Isso tornava mais fácil a pesquisa por temas e autores. Não era preciso desenrolar o papiro, bastava virar a página. Muitos livros foram perdidos porque não foram passados de papiro para pergaminho e o papiro era um suporte condenável pela sua premiabilidade ao tempo, extremamente frágil e erosivo. Decidi-me pelo gelo como suporte, o mais virtual. Em fluorescente métrica nova escrevo uma rima de Petrarca no gelo. Os franco-atiradores passam por cima. Estamos em 1945 em Roma. Qualquer gesto humano me excita violentamente, amo tudo quanto fluí. Adoro um infrassól que permite todas as possibilidades. Ouço os bombardeamentos lá fora e agora estou sozinha no ringue. Bastava virar a página, mas tenho creme na boca, toda a história – Enquanto ordenarem a história por blocos não terei calma, ela é fluida como o rio que Pasolini traduz – Pasolini traduz também as montanhas e os lagos, e os pirilampos acenderem-se é só um fenómeno como a fuga para o egípcio de um povo perseguido. Preciso de escrever assim como preciso de nadar, porque o corpo assim mo exige.
III.
As linhas de tempo também não existem, disseste-me em doce estilo novo, abraçámo-nos, falamos de linhas a tarde toda – Depois voltei para o ringue. São Bento apareceu, dessa vez não foi um verso de Petrarca que escrevi, mas um de Mário Santiago Papasquiero, em forma de manifesto: Os manifestos aquecem e levam pólen nas patas. Deixam-no cair à sua passagem e fertilizam as pessoas. Esqueci-me dos bombardeamentos, as sirenes tocavam. Mário Santiago Papasquiero ainda não tinha nascido, era uma estrela bebé recheada de memórias futuras: Estava-mos em 4 de Junho de 1945, os aliados entravam na cidade. Escrevi no gelo um poema seu:
He introducido mi vida
en la vulva radiante de la estupefacción
/ Mi droga es respirar este aire caliente /
Traducir a la luna en mi piel
: hermanar mis heridas con su savia creciente :
Subscrever:
Mensagens (Atom)